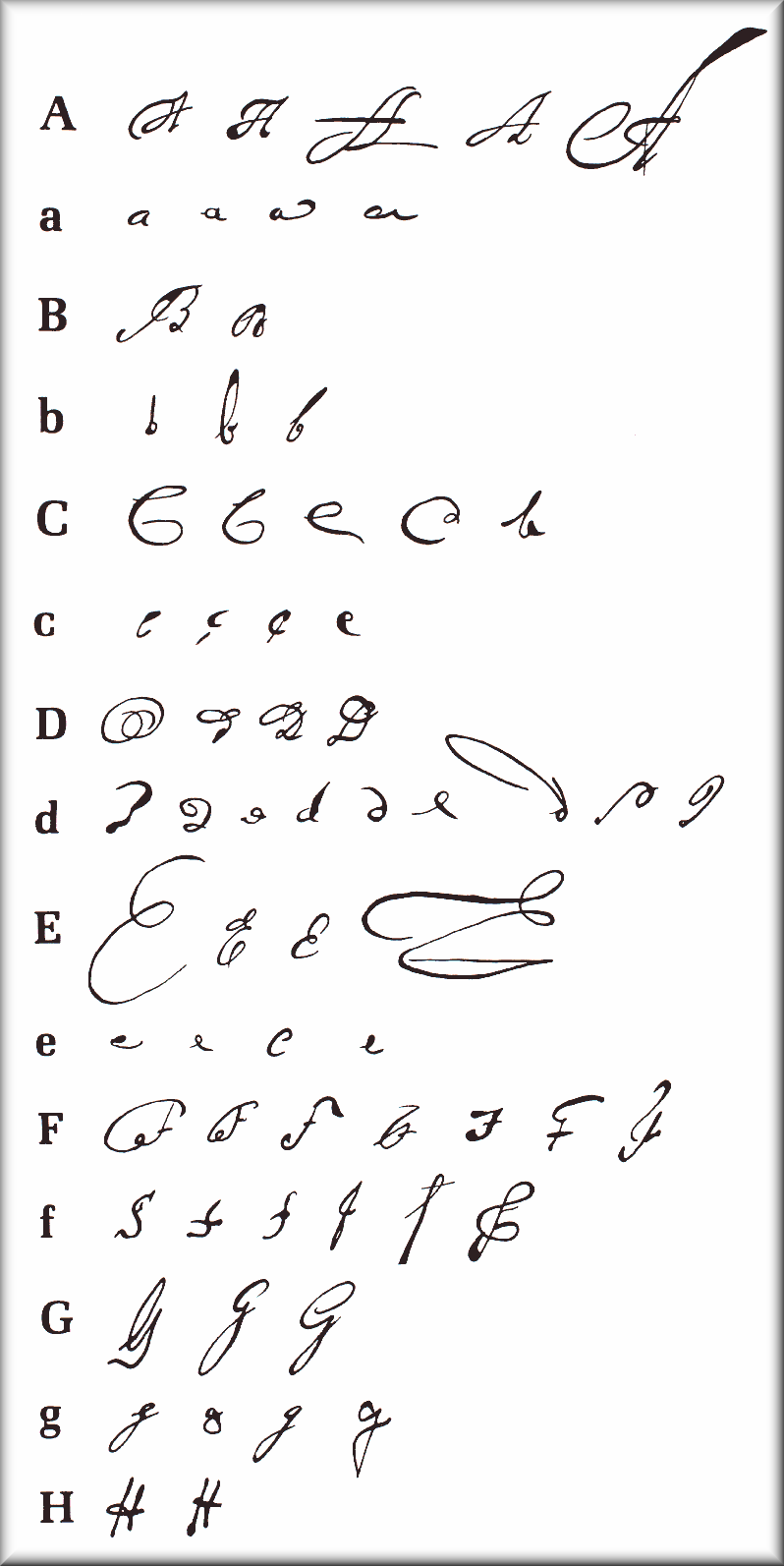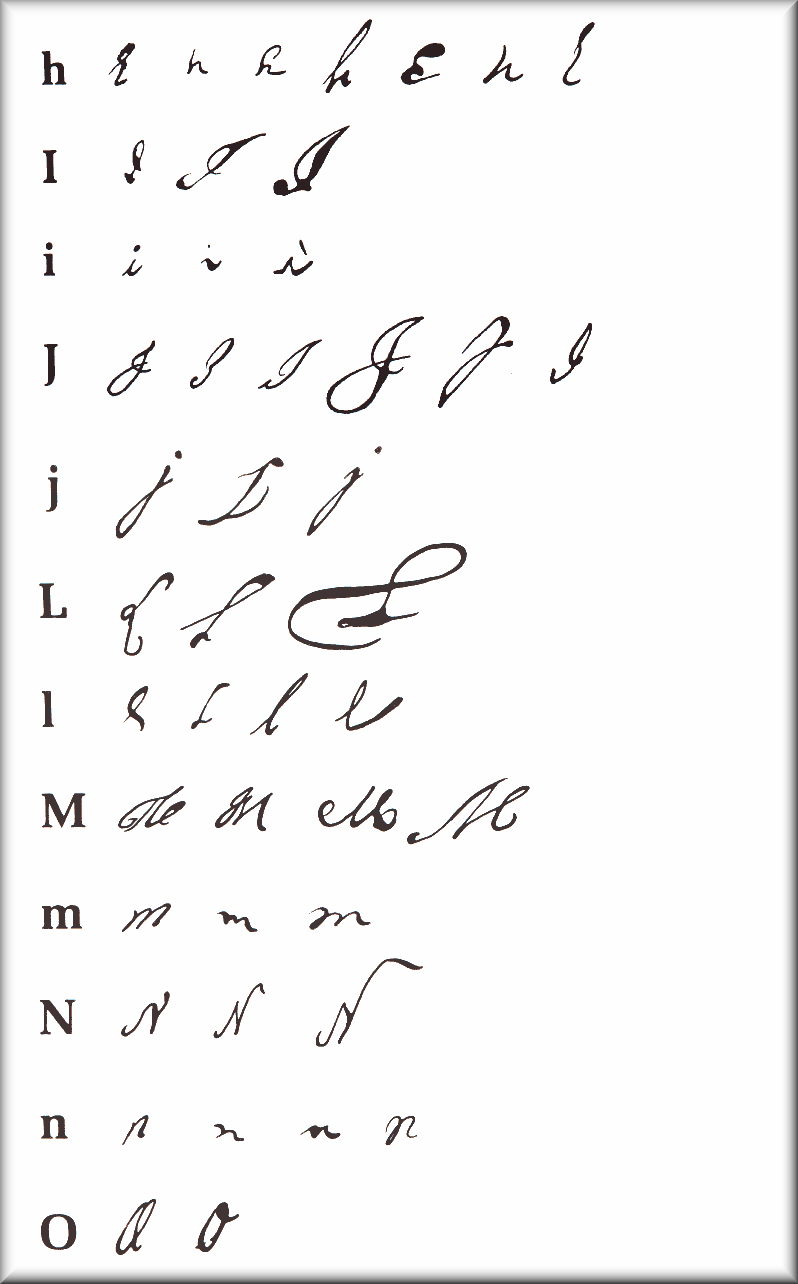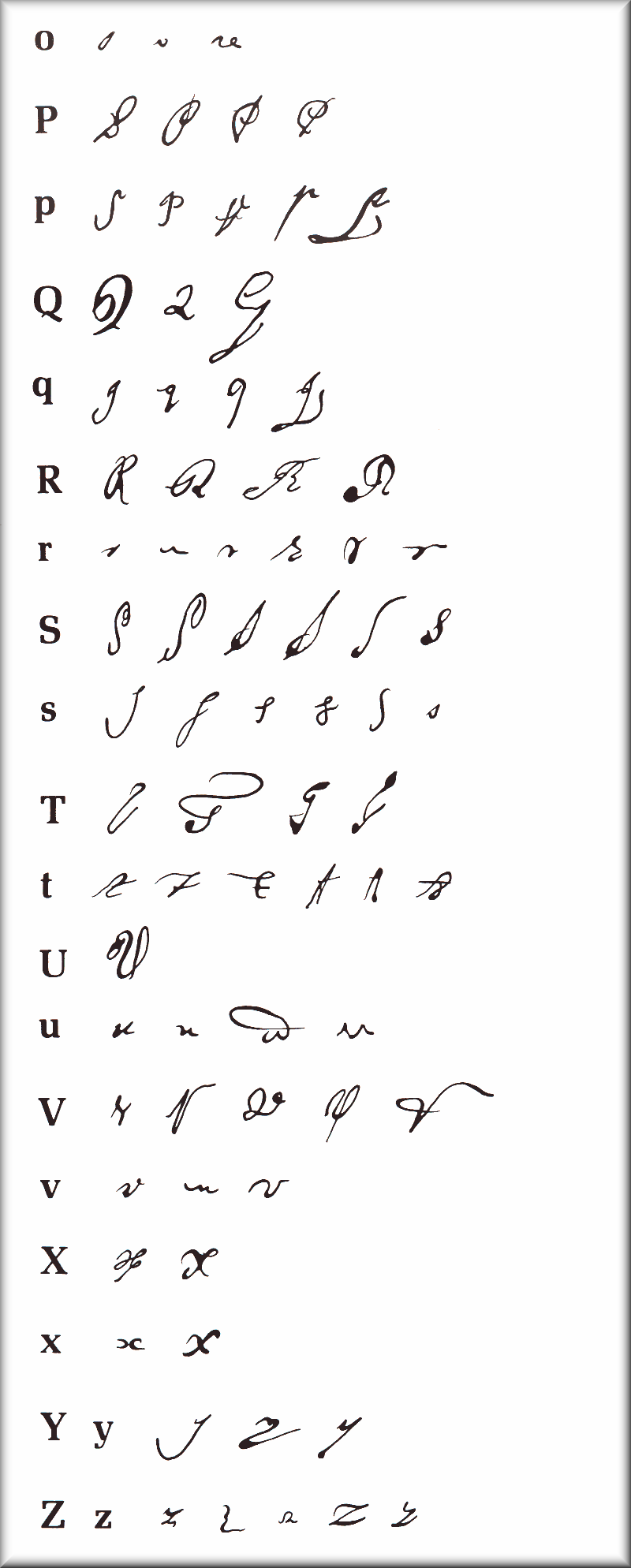José Chiachiri Filho
Diretor do Arquivo Historico de Franca
A História da Franca começa, precisamente, nos finais de 1805 quando, por autorização de D. Mateus de Abreu Pereira (Bispo de São Paulo) dada em agosto, o Pe. Joaquim Martins Rodrigues, primeiro Vigário da nova Freguesia, benzeu o local onde seria erguida uma “decente Casa de Orações” e o seu respectivo cemitério. O local situava-se onde hoje se encontra a praça Nossa Senhora da Conceição (área da Fonte Luminosa). O terreno para a formação do patrimônio da Igreja foi doado pelos irmãos Antunes de Almeida, desmembrados de sua fazenda denominada Santa Bárbara.
Na realidade, o ato de D. Mateus de Abreu Pereira não resultava na criação de uma nova Freguesia. Ele, simplesmente, autorizava a transferência da sede da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Bonsucesso do Descoberto do Rio Pardo para o arraial da Franca que estava sendo formado pelos entrantes das Minas Gerais. Antonio José da Franca e Horta, então Governador e Capitão General da Capitania de São Paulo, teve um papel decisivo nessa transferência. Por isso mesmo, reconhecendo os seus esforços, o novo arraial e Freguesia já nascem com o seu nome.
Portanto, Franca surge com o século XIX e com ele desenvolve-se. Antes, eram o sertão, o “Bello Sertan do Caminho dos Goyazes”, os caiapós, os bandeirantes, os pousos. Depois vieram os “intrantes das Geraes”, os arraiais, as freguesias, a Vila Franca do Imperador. Tais serão os assuntos que iremos tratar neste artigo elaborado, exclusivamente, para o Diário da Franca.
1. O Caminho dos Goiases e os Pousos do Sertão.
O sertão era do indígena caiapó. Porém, antes do término do século XVII, Pires de Campos (o Pai Pira) e outros bandeirantes haviam passado pela região no afã de conhecê-la e, mais do que isto, descobrir as suas riquezas e apresar os seus habitantes.
Os esforços de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, não foram em vão. Ainda no primeiro quartel do século XVIII, as minas de ouro da Serra dos Martírios já estavam descobertas por seu filho o Anhanguera II, e entre São Paulo e a recém fundada Vila Boa de Goiás estabeleceu-se um intenso fluxo de homens com seus animais, negociantes com suas mercadorias, mineradores com sua fome de ouro, aventureiros com seus sonhos, facínoras com seus crimes.
Para dar apoio, sustento e descanso a esses “viandantes”, formaram-se, ao correr do Caminho, os pousos, minúsculos núcleos populacionais que abriam tímidas clareiras no grande sertão. Os pousos desenvolveram-se ou estagnavam-se a medida em que aumentava ou diminuía o fluxo de gente e de coisas pela Estrada dos Goiases. Por conseguinte, o escasseamento do ouro de Vila Boa trouxe como conseqüência a decadência definitiva dos pousos. Não obstante, a decadência não resultou em seu completo desaparecimento.
Mais tarde, no século XIX, eles iriam ainda servir de pousada para o boiadeiro, para os carros de bois, para os comerciantes de então, para os abastecedores dos centros urbanos que surgiam na época tais como São Paulo e Rio de Janeiro.
Num dos primeiros e mais completos documentos sobre os pousos do “Sertão do Rio Pardo thé o Rio Grande”, existente no Arquivo Público do Estado de São Paulo, dá-nos uma excelente visão sobre a época e a região estudadas. Trata-se da lista dos moradores estabelecidos ao longo do “Caminho” que ia para Vila Boa, distribuídos em seus respectivos pousos.
Assim‚ que no pouso do Rio Pardo moravam Domingos da Silva, de 69 anos, casado e mais 6 pessoas incluindo-se nestas os seus filhos, escravos e agregados. No Cubatão, Joana Pires, viúva de 30 anos e mais 17 pessoas. Em Lages, José Barbosa de Magalhães, 39 anos, casado com Maria Pires, vivia com seus 24 filhos, escravos e agregados. Em Araraquara morava Salvador Pedroso, casado, de 70 anos com mais 5 pessoas. No pouso dos Batatais só viviam 4 indivíduos: Luís de Sá, 33a. com sua mulher Teresa Maria de 27a. e mais 2 agregados. Na Paciência, Pedro Gil, 67a. com sua mulher e mais 3 agregados. No Pouso Alegre achava-se Raimundo de Morais, 60a., viúvo e mais o seu filho, 1 agregada e 2 escravos. Manuel de Almeida (53a.) ocupava o pouso do Sapucaí com sua mulher Ana Antunes, 41a., os seus filhos José (12a.), Vicente (10a.), Antônio (7a.) e mais 7 agregados. No famoso pouso dos Bagres só aparecem 3 habitantes: Fernando Antônio, 43a., com sua mulher Maria, 37a., e sua filha Ana. Bernardo Machado (50a.) e sua mulher moravam na Posse com mais 14 agregados No pouso da Ressaca encontravam-se 5 moradores. No Monjolinho, além de Salvador Barbosa (40a.), sua mulher Isabel e seu filho José, moravam 6 agregados. Dos mais numerosos era o pouso do Calção de Couro, chefiado por José da Silva, 54 a., e sua mulher Maria de Paiva e que se completava com mais 21 habitantes. Antonio Pires, 40a., e sua mulher Catarina eram moradores do Rio das Pedras com mais 10 pessoas. Miguel e Maria Buena encabeçavam o pouso da Rocinha que contava ainda com mais 15 habitantes. Finalmente, nas barrancas do grande rio, localizava-se o pouso do Rio Grande chefiado por José de Almeida, casado, 43a., possuidor de um escravo e que ali vivia em companhia de João Pereira Carvalho, o “mestre da barca” usada na travessia dos viajantes. Quando a Freguesia de Franca repartiu-se cima de Batatais (1814) nestas se incluíam os pousos que ficavam entre o rio Pardo e o Sapucaí.
Decorridos vinte anos, algumas alterações se verificaram nos pousos e na população do sertão. Uma delas foi a tendência de crescimento demográfico. Se, em 1779 a população do “Caminho dos Goyazes” não ia além de uma centena e meia de habitantes, em 1799 ela chegava a casa dos 660 habitantes. Apesar da unificação das listas populacionais a partir de 1793 (os moradores do sertão do rio Pardo passaram a ser computados em conjunto com os da região de Caconde) era evidente o aumento da população do Belo Sertão ao passo que diminuía a quantidade de moradores situados a margem dos ribeirões do Bom Sucesso, São Mateus e cabeceiras do rio Pardo. Tal crescimento vai acentuar-se com a entrada do século XIX e a chegada dos entrantes das Gerais.
Todavia, passadas duas décadas, ainda estavam no Sertão do Rio Pardo até o Rio Grande, os Pires, os Bueno, os Antunes de Almeida e tantas outras famílias que, apesar de “mulatas”, traziam em seus sobrenomes a sua origem bandeirante. É bem provável que Domingos da Silva relacionado na Lista Populacional de 1799 como cabeça do fogo 62 seja o mesmo do pouso do Rio Pardo de 1779.
Josefa Pires (pouso do Cubatão) reaparece casada com José de Almeida. José Barbosa de Magalhães já havia falecido, mas, no pouso de Lages ainda permanecia sua viúva Maria Pires (fogo 8) com seus 6 filhos. Com a morte de Pedro Gil, assume a chefia do fogo 28 (pouso da Paciência) a sua mulher Francisca Gil. Não resta a menor dúvida que o Bernardo Machado do fogo 18 da Lista de 1799 é o mesmo do pouso da Paciência, tendo, naquele ano, com seus 15 agregados, vendido para os comerciantes de Minas 50 alqueires de milho. Assim como Manuel de Almeida, primeiro Capitão de Ordenanças do Caminho dos Goiases, podiam ser encontrados nas duas listas populacionais: no fogo 32, por exemplo, estavam Antônio Pires e sua mulher Catarina (pouso do Rio das Pedras) vendendo para as tropas de Minas 100 alqueires de milho, 10 de feijão 16 de farinha e 6 arrobas de toucinho. Miguel e Maria Buena, do pouso da Rocinha, são encontrados no fogo 23 plantando para o gasto e vendendo para os negociantes 30 alqueires de milho.
Nas últimas décadas do século XVII, os pousos continuariam com suas antigas funções de local de parada, descanso e abastecimento, funções estas que seriam incrementadas pelas tropas de negociantes das Minas Gerais que percorriam o sertão comprando os produtos da terra para revendê-los aos centros consumidores, especialmente, o Rio de Janeiro, São Paulo e quadrilátero do açúcar.
Com isso, os pousos ganham novo vigor econômico com o fornecimento de milho, feijão, arroz, queijo, sola, toucinho, algodão, principalmente a carne de seus rebanhos de vacuns. Contudo, nenhum desses pousos se transforma em arraial. O arraial é fruto de uma outra realidade, de outro cenário, de outros fatores que se processarão no século XIX.
No primeiro quartel do século XIX, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, homem culto e perspicaz, registra a sobrevivência dos pousos, a permanência de suas finalidades e a diferença entre eles e os arraiais. Ao atravessar o Rio Grande, escreve o naturalista: “…comecei no dia 24 de setembro de 1819 a percorrer essa imensa Provincia. Para alcançar sua capital viajei 86 léguas seguindo a estrada que as caravanas percorrem em demanda de Goiás e Mato Grosso. Gastei 36 dias nessa viagem muito castigada pelas chuvas e pelas más pousadas…”… “No próprio dia de minha chegada ao rio Grande, atravessei-o e dormi num vasto rancho coberto de folhas e aberto de todos os lados. A noite estava muito fria. Pela manhã, antes do despontar do sol, uma neblina espessa impedia-me de ver os objetos circunvizinhos, mas logo desapareceu e pude me deliciar com a beleza da paisagem.” Sobre os moradores estabelecidos nos pousos ao longo da estrada, assim se manifestou Saint-Hilaire: “Enquanto descrevia e examinava as plantas, aproximou-se um homem do rancho permanecendo várias horas a olhar-me sem proferir qualquer palavra. Desde Vila Boa até o Rio das Pedras tinha eu tido, quiçá, cem exemplos dessa estúpida indolência. Esses homens embrutecidos pela ignorância, pela preguiça, pela falta de convivência com seus semelhantes e, talvez, por excessos venéreos prematuros, não pensam, vegetam como árvores, como as ervas dos campos”.
Mais adiante, sua opinião sobre os Batatais foi bem diferente: “A duas léguas de Paciência, detive-me na fazenda de Batatais, abrigando-me num rancho cercado por grossos moirões que o defendiam dos animais. Depois da cidade de Goiás, nenhum rancho vi construído com tamanho cuidado. Batatais é dependência de uma pequena Vila do mesmo nome situada a pouca distância da estrada do lado de leste e que não cheguei a ver.”
Os pousos ficaram como herança do povoamento bandeirante-caiapó do Belo Sertão da Estrada dos Goiases e, até hoje, muitos locais da região são identificados por aquelas antigas denominações.
2. O Capitão Manuel de Almeida.
Nas proximidades do Pouso Alegre e Bagres, localizava-se o pouso do Sapucaí encabeçado pelo português Manuel de Almeida. Desde 1779 ele vivia na referida localidade juntamente com sua mulher, Ana Antunes (de 41 anos), e seus filhos José (12 anos), Vicente (10 anos) e Antônio (7 anos). Além de sua família, viviam sob a proteção de Manuel de Almeida (que, por essa época contava com 53 anos) os seguintes agregados: Pedro, casado, com 40 anos e Inácia, sua mulher, de 39 anos; João, 25 anos; Paulo, de 52 anos; Francisca com 30 anos; Miguel, 30a.; Maria, 20 a.. Por conseguinte, o pouso do Sapucaí contava com 12 habitantes em 1779.
Após 20 anos, isto é, em 1799, Manuel de Almeida e sua família ainda permaneciam no pouso do Sapucaí. A Lista Populacional de referido ano apresenta o seguinte cabeçalho:
“MAPA GERAL DOS HABITANTES EXISTENTES NA PAROCHIA DO ARRAYAL DE NA SNRA DA CONCEYÇÃO DO BOM SUCESSO DAS CABECEIRAS DO RIO PARDO DE QUE HÉ CAPM MANOEL DE ALMEIDA NO ANNO DE 1799 SUAS OCUPAÇOENS, EMPREGOS E GENEROS QUE CULTIVO.”
Portanto, Manuel de Almeida já havia recebido a patente de Capitão de Ordenanças do Belo Sertão da Estrada dos Goiases, fato que indicava a importância da região no novo contexto econômico que se desenhava.
Na Lista, os moradores não vinham discriminados em seus pousos, mas sim em seus fogos, aos quais pertenciam. Manuel de Almeida, agora com 73 anos, encabeçava o fogo número 1 com sua mulher Ana de Sousa Antunes (61 a.) e mais os filhos: Alferes José Pio Antunes de Almeida (34 a.), Vicente Antunes (23) e Antônio Antunes (32), à família acrescentou-se a nora Maria Francisca, casada com Vicente. Completava o fogo 6 escravos e 5 escravas. Contrariamente ao “mapa” anterior, não se registrava nenhum agregado. O Capitão Manuel de Almeida vivia: “de rendas da passagem do rio Sapucahy”. Mas não era só dessas rendas que provinha o seu sustento. Também plantava para o gasto e o excedente, vendia para as “tropas” de Minas sendo que no ano de 1799 havia negociado: 30 alqueires de milho, 15 de feijão, 10 de arroz, 20 arrobas de toucinho e 12 arrobas de fumo. O Capitão Manuel de Almeida e sua mulher ainda aparecem nas Listas de 1801 e 1803. Porém, os seus filhos Vicente e José Pio já não fazem parte do seu fogo, isto é, já não eram mais dependentes do seu fogão. Junto aos pais somente permanece o filho Antônio. Em 1803, o velho Capitão de Ordenanças assim anotava as suas atividades: “Administrador de passage da Real Fazenda – Planta para o gasto – Colheu de milho 300 alqs. e vendeo 50 – Colheu 20 de feijão e vendeo 6 – Colheu 10 de arroz – Marcou 3 gados vacum”.
3. Os Irmãos Antunes.
Dos filhos de Manuel de Almeida, Vicente e Antônio permanecem no Sertão do Rio Pardo. O Alferes José Pio toma outro rumo. Vicente sai do fogo do pai para incorporar-se ao encabeçado por sua Sogra Maria Pires Cordeiro (fogo 8), próspera agricultora e criadora. Na Lista de 1805, Vicente Ferreira Antunes de Almeida encabeça o fogo 99 com sua mulher Maria Francisca e os seus 5 filhos. O fogo 99 situava-se na região de Santa Bárbara. Antônio Antunes de Almeida passou a chefiar o fogo 111. Aos 35 anos ainda se achava solteiro. Com seus 11 escravos, plantava e criava e, em 1804, havia vendido para os comerciantes da estrada 30 alqueires de milho (dos 200 colhidos). Havia colhido, também, 20 alqueires de feijão e marcado 20 vacuns.
Para se atravessar os rios do Sertão, os viajantes deveriam pagar os “direitos de passagens” devidos, inicialmente, a Bartolomeu Bueno da Silva e seus descendentes. Mais tarde, a Coroa incorporou esses direitos a sua receita. Manuel de Almeida, português de Lisboa, seria o encarregado de administrar a passagem do Sapucaí e de recolher as rendas para a Real Fazenda. O fato de ele ter sido o administrador da “passage”‚ muito importante porque nos possibilita a localização exata do seu pouso ou fogo. O velho Capitão e sua família moravam à beira do rio Sapucaí em terras de há muito aposseadas e identificadas com o nome de Santa Bárbara.
Em 1805, ao fazerem doação de terras para a formação do patrimônio da nova Freguesia da Franca, os irmãos Antunes, isto é, Vicente Ferreira Antunes e Antônio Antunes de Almeida, fizeram-na com base no desmembramento de parte de sua fazenda Santa Bárbara.
Durante o Brasil-Colonia, prevaleceu o sistema de concessão de terras conhecido como sesmaria. Contudo a maior parte do Belo Sertão era constituída por terras devolutas.
Mais do que o título, a posse efetiva com o plantio e o cultivo, garantia a propriedade. D. Maria I já se havia pronunciado enfaticamente neste sentido (cf. Os Sem Terra do Século XIX, artigo de nossa autoria publicado no Diário da Franca). Desde 1779 (ou mesmo antes), Manuel de Almeida e sua gente havia-se estabelecidos às margens do Sapucay-mirim. Todavia, somente em 1808 os seus filhos, Antônio e Vicente, receberão o título legal de posse, isto é, a Carta de Sesmaria. Evidentemente, a referida concessão decorria da necessidade de se legalizar a posse dos Antunes de Almeida em virtude de sua doação para a “fabrica” da igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição da Franca.
D. Mateus de Abreu Pereira, bispo de São Paulo, ocupando interinamente o Governo da Capitania, resolve legalizar a posse do primeiro Capitão de Ordenanças do Belo Sertão da Estrada dos Goiases, concedendo aos seus filhos e herdeiros a Carta de Sesmaria da fazenda Santa Bárbara a qual é a seguinte: “Carta de Sesmaria a Vicente Ferreira Antunes a Antonio Antunes de Almeida de 3 Legoas de terra no Disto da V.a de Mogi-Mirim. Dom Matheus de Abreu Pera, do Conso. de S.A.R. Bispo de S. Paulo, o Dezor. Miguel Antonio de Azevedo Veiga Ouvor. Geral e Corregor desta Comca, e Joaqm Manuel do Couto Chefe de Divizão da Armada Real, e Intendente da Marinha de Santos, todos Govres Interos desta Capitania Geral de S. Paulo etc. Fazemos saber aos q’ esta Nossa Carta de Sesmaria virem q’ attendendo a Nos reprezentarem Vicente Ferreira Antunes, e Antonio Antunes de Almeida da Villa de Mogi-Mirim, q’ elles possuem desde o tempo do falescido seo Pai, o Capm Manoel de Almda tres legoas de terra no Certão da Estrado de Goyazes entre o Rio Sapucahy, e o Rio Grande na paragem chamada o Ribeirão dos Bagres termo da dita Villa, onde os Suplicantes já tem bastantes criaçoens de Gados; e pr isso pedião nos lhes concedessemos pr Carta de Sesmaria as mmas tres legoas de terra no do Ribeirão dos Bagres fazendo peão onde mais conveniente for, e sendo visto o Seo requerimto em q’ foi ouvida a Camara da Villa Mogi-Mirim, e o Doutor Procurador da Coroa, e Fazenda aqm se deu vista, e com ql parecer Nos Conformamos: Havemos pr bem dar de Sesmaria em Nome de S.A.R. o Principe Regte N.S./ em observancia da Real Ordem de 15 de Junho de 1711, e das mais sobre esta Materia / aos ditos Vicente Ferra Antunes, e Antonio Antunes de Almda duas legoas de terra em qdra na paragem Mencionada com as confrontaçoens acima indicadas sem prejuizo de terceiro, ou do direito, q’ algumas pessoas tenhão a ellas o ql lhes deixamos salvos pa o alegarem, ou no acto da Medição, ou pa outro qualqr q’ lhes convier: Com declaração, q’ as cultuvarão, e mandarão confirmar esta Carta de Sesmaria pr S.A.R. dentro em dois annos, e não o fazendo se lhes denegar mais tempo, e antes de tomarem posse dellas as farão Medir, e demarcar judicialmentesendo pa este effeito noteficadas as pessoas comqm confrontar, e serão obrigados a fazer os Caminhos de suas Testadas com pontes e estivas onde necessario for, e descobrindo-se nellas Rio caudalozo, q’ necessite de Barca pa atravessar ficar rezervada de huma das Margens delles meia legoa de terra em quadra pa Commodidade Publica, e nesta data não poder succeder em tempo algum pessoa Eccleziastica, ou Religião, e Succedendo ser com o encargo de pagar Dizimos, ou outro qual quer, q’ S.A.R. lhe quizerem impor de novo, e não o fazendo se poder dar aqm o denunciar, como tambem sendo o dito Senhor servido Mandar fundar no Districto della algumaVilla o poder fazer ficando livre, e sem encargo algum pa os Sesmeiros, e não Compreender essa datta veeiros, ou Minas de qualquer genero de Metal q’ nella se descobrir, rezervando tambem os Paos Reaes; e faltando aql qr das ditas Clauzulas pr seren Conformes as Ordens de S.A.R., e o q’ dispoem a Lei, e Foral da Sesmarias ficarão privadas desta: Sendo outro sim o obrigdos os Sesmeiros a levar com Arado cada anno nas terras q’ legitimamte lhes pertencer hum pedaço de terreno proporcionado ao q’ se acha estabelecido de seis braças de frente, e seis de fundo pa cada Legoa quadrada concervando Lavradias as q’ huma ves forão tratadas com Arado na forma determinada pelo avizo da Secretra de Estado dos Negocios da Marinha e Dominios Ultramarinos de 18 de Maio de 1801: com a Cominação de q’ não cumprindo assim pagar Cem reis pa cada braça, q’ deixar de lavrar q’ serão aplicados pa as obras, e mais despezas do Hospital Militar desta Cidade, cujo encargo passar com as mesmas terras a todos os possuidores, q’ forem dellas pa o fucturo, e no Cazo q’ ellas se subdevidão ser obrigado a lavrar a parte q’ lhe tocar proporcional a parte q’ ql qr outro possuir de suas refferidas terras. Pello q’ mandamos ao Ministro, e mais pessoas a quem o Conhecimento desta pertencer dem posse aos ditos Vicente Ferra Antunes, e Antonio Antunes de Almeida das refferidas terras na forma q’ dito hé. E por firmeza de tudo lhe mandamos passar a prezte por Nos assignada, e Sellada com o Sello das Armas Reaes, q’ se cumprir inteiramente, como nella se contem, se registrar nos Livros da Secretra deste Govo, e mais partes a q’ tocar, e se passou pr duas vias Dada nesta Cidade de São Paulo aos 28 de Julho de 1808. Assinam a Carta de Sesmaria o escrivão José Matias Ferreira de Abreu, o Secretario de Governo Manuel da Cunha de Azevedo Coutinho Sousa Chichorro, e os Governadores interinos D. Mateus de Abreu Pereira, Miguel Antonio de Azevedo Veiga e Joaquim Manuel do Couto”.
O ribeirão dos Bagres de que nos fala a Carta, localizava-se próximo ao Sapucaí, onde desaguava. O atual córrego dos Bagres vai desembocar no referido ribeirão. Porém, esse mesmo córrego recebia, em 1818 (por ocasião da visita de Alincourt) a designação de Itambé e, mesmo, Catocos (visita de Taunay).
O processo de demarcação da fazenda Santa Bárbara encontra-se conservado no Arquivo Histórico Municipal e é datado de 1822. Contudo, ela já era de propriedade de Francisco Antonio Dinis Junqueira e não mais dos irmãos Antunes.
4. Os Entrantes das Gerais: As Primeiras Famílias.
Em 28 de novembro de 1824, o “Districto do Rio Pardo thé o Rio Grande” é elevado a categoria de Vila. Cria-se, por conseguinte a Vila Franca do Imperador, que, destarte, emancipa-se da Vila de São José de Moji-mirim. Os vereadores são eleitos e os juizes também, Os empregados da Câmara são nomeados e a Municipalidade passa a gerir, por si própria, os seus destinos.
Na realidade, a fundação de Franca data de 1805 quando o Pe. Joaquim Martins Rodrigues, primeiro vigário encomendado da nova Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca, benze o terreno, doado pelos irmãos Antunes, onde seriam construídos o cemitério e a Matriz. O arraial da Franca e todos os outros do antigo Belo Sertão nascem em virtude da afluência e da vontade dos entrantes das Minas Gerais que apossam-se da região nos primeiros anos do século XIX.
Graças às Listas Populacionais pode se precisar o ano em que se inicia esse fluxo demográfico e quais foram as primeiras famílias que se fixaram no antigo sertão.
Um dos primeiros a chegar foi José Gomes Meireles que aparece na Lista de 1803 com sua mulher Rosana (fogo 40) e mais 5 filhos e 5 escravos. De acordo com o registro eles vieram do: “arrayal de Pitanguy, Destricto das Gerais e estão arranxados de poco”. Das Minas Gerais também era Manuel Pereira Pinto que morava no fogo 42 com sua mulher Ana Maria e seus dois filhos. Ele vivia de seu oficio de alfaiate, mas também plantava para o seu gasto.
Todavia, é em 1805 que esse fluxo migratório começa a se evidenciar. Nesse ano, a Lista já foi da responsabilidade de Hipólito Antonio Pinheiro, nomeado Capitão de Ordenanças em substituição a Manuel de Almeida que falecera recentemente, Hipólito Antonio Pinheiro encabeçava o fogo número 1. Natural de Congonhas do Campo, Hipólito vem para o sertão aos 51 anos de idade acompanhado de sua mulher Rita Angélica do Sacramento e dos filhos: João, Quintiliano, Ambrósio, Luciana, Ana, Hipólita, Rita, e mais as netas: Rita, Maria, Hipólita e Porcina. Além de 8 escravos, vieram com ele os agregados: José Gonçalves Campos e Maria de São José que, por sua vez, possuíam 4 escravos. Em conjunto eles plantaram milho, feijão e marcaram vários vacuns e cavalares.
No fogo 2 encontra-se Heitor Ferreira de Barcelos, natural da Vila de São José. Ele era irmão de Hipólito por parte de mãe cujo nome era Ana Faria. O Alferes Heitor (42 anos) vinha acompanhado de sua mulher Ana Angélica (34 a.) e os filhos: Claudio, Anselmo (11 a.), Heitor, José, Joaquim, Ana, Maria, Silvéria, Cândida. Possuía 10 escravos e os seus agregados eram: João do Rego e Ana Maria que, por seu turno, tinham 8 filhos e 1 escravo.
O Reverendo Joaquim Martins Rodrigues, natural de Congonhas do Campo, aparece no fogo número 3 e, curiosamente é chamado de Vigário da Freguesia antes mesmo dela se concretizar. O Reverendo tinha 7 escravos e 5 agregados.
Antônio Alves Guimarães era oriundo do Reino, tendo nascido em Guimarães. Certamente, ele primeiro se estabelece em Minas para depois vir para o Sertão do Rio Pardo.
De São Bento do Tamanduá, veio João Rodrigues de Sousa, Antonio Vieira (era natural da Vila de São José), José Gonçalves de Melo, de São João del Rei. Também de São João del Rei era Francisco Machado do Espírito Santo. De vários arraiais e Freguesias, de inúmeros distritos e Vilas vieram os entrantes das Gerais para arrancharem e formarem suas fazendas no Belo Sertão, E quanto mais avançarmos pelo século XIX, mais acentuado ser este fluxo migratório que ira transformar o sertão urbanizando-o com seus arraiais e humanizando-o com a sua gente.
Fontes:
– Listas Populacionais de 1779, 1799, 1801, 1803, 1805 – existentes no Arquivo Público do Estado de São Paulo
– Viagem à Província de São Paulo de Auguste de Saint-Hilaire
– Livro de Sesmarias
Colaboração: equipe do Arquivo Histórico Municipal de Franca
 “Eis-me finalmente incorporado às Unidades Especiais. Os 30 dias que restam vão ser minha verdadeira vida. Chegou a hora. O treinamento para a morte me espera: um aprendizado intenso para morrer com beleza. Parto para o combate contemplando a imagem trágica da pátria. Sou um homem entre outros. Nem bom nem mau. Nem sou superior nem sou um imbecil. Sou decididamente um homem.”
“Eis-me finalmente incorporado às Unidades Especiais. Os 30 dias que restam vão ser minha verdadeira vida. Chegou a hora. O treinamento para a morte me espera: um aprendizado intenso para morrer com beleza. Parto para o combate contemplando a imagem trágica da pátria. Sou um homem entre outros. Nem bom nem mau. Nem sou superior nem sou um imbecil. Sou decididamente um homem.”
 A capacidade de ler e escrever paleografia exige duas habilidades importantes: (1) saber transpor os caracteres do documento original para caracteres com os quais estamos mais familiarizados, e (2) saber identificar as abreviações usadas no texto do registro.
A capacidade de ler e escrever paleografia exige duas habilidades importantes: (1) saber transpor os caracteres do documento original para caracteres com os quais estamos mais familiarizados, e (2) saber identificar as abreviações usadas no texto do registro.