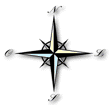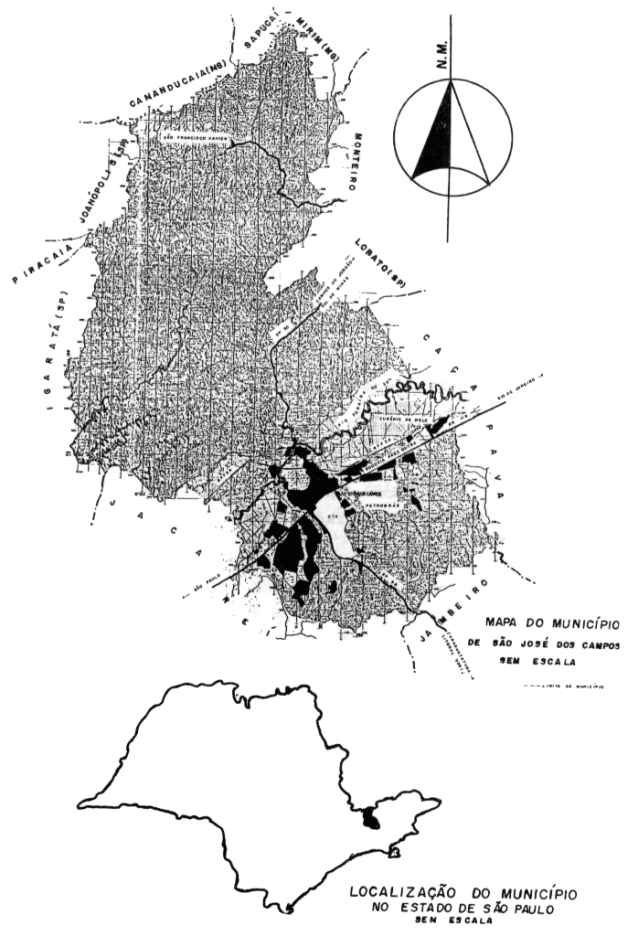Texto publicado em 17/02/2001 por
Sandra Wienke Tavares e equipe da Heráldica Pelotense.
Introdução
O seu nome e a Heráldica
Na Europa da Idade Média, no calor das batalhas, viver ou morrer dependia de saber distinguir o amigo do inimigo. Essa era uma tarefa difícil, com os cavaleiros cobertos por armaduras.
Assim, cada combatente costumava decorar seu escudo e sua túnica com um distintivo único, que o diferenciava dos demais. Surge então a heráldica, nome proveniente do inglês “heralds”, que eram os homens encarregados pelos reis para desenhar os brasões.
Arte que nasceu para atender a nobres e cavaleiros, expandiu-se com o surgimento dos reinos e cidades, onde cidadãos importantes recebiam a sua cota de armas.
Praticamente todas as famílias de origem européia tem o seu brasão registrado nos antigos livros de armas.
Este trabalho de pesquisa é oferecido pela Heráldica Pelotense, trazendo ao portador do brasão um sentimento de identidade e contexto na história.
Capítulo I
A concessão das Armas
Brasão e armas são termos heráldicos de igual valor e significam o conjunto de insígnias hereditárias, compostas de figuras e atributos determinados, concedidos por príncipes e reis em recompensa por serviços relevantes. Podem ainda indicar marca ou distintivo de linhagem premiada.
A idéia de usar símbolos é muito primitiva e na sua origem foi hieróglifa. Os primeiros que se tem conhecimento eram religiosos e indicativos de profissão, geralmente gravados no túmulo.
A origem do uso de símbolos heráldicos remonta à Idade Média, quando das Cruzadas. Para distinguirem-se dos outros exércitos e até mesmo para facilitar a contagem dos mortos em batalha, os escudos eram pintados de certa cor ou com determinado símbolo. Ao retornarem dos confrontos ou de outro país, muitas vezes estes escudos eram enriquecidos com novos símbolos e cores.
Os símbolos como sinais de honra e nobreza, que passavam de pais para filhos, começaram a ser empregados nas armarias no final do século X, tendo sido regularizado o seu uso e aperfeiçoadas suas regras nos três séculos seguintes. Mas as regras precisas da confecção dos brasões e os termos próprios da heráldica somente foram estabelecidas ao final do século XV. Seu apogeu na Idade Média deve-se ao apogeu da cavalaria, do romantismo na arte e da exaltação da família e da nobreza.
Posteriormente os símbolos e cores foram usados em torneios da cavalaria, evoluindo para o conjunto de símbolos e cores concedidos por autoridades reais como recompensa por serviços prestados ou por feitos heróicos. Os símbolos podiam ser transmitidos aos filhos e herdeiros, estabelecendo-se assim as linhagens. Com isto, nesta etapa da história da heráldica formou-se um corpo de nobreza com escudo de armas ou brasões, que raras vezes representavam feitos de guerras ou conquistas, mas sim o procedimento de antepassados mais ou menos diretos e algumas vezes indiretíssimos.
Quase ao mesmo tempo foram criadas as armas de ordens militares, religiosas, da classe política e judicial. Ao final das concessões, os brasões eram quase que exclusivamente outorgados a ocupantes de cargos políticos, pertencentes ao pequeno círculo da corte.
No Brasil a heráldica nasceu durante o Império Brasileiro e o uso dos títulos extinguia-se com a morte do titular. Os brasões eram concedidos a grandes fazendeiros, políticos e outros que, de uma forma ou de outra, prestavam apoio ou préstimos à Coroa.
Capítulo II
Os Metais e os Esmaltes
Na representação dos brasões de armas são utilizados apenas dois tipos de metais, o ouro e a prata, e cinco tipos de esmaltes, a saber: vermelho, azul, verde, púrpura e negro, conforme mostrado na figura abaixo. Os desenhos que representam o corpo humano ou suas partes podem ser usados na sua cor natural, também conhecida como “carnação”. O termo esmalte tem origem nas palavras “hasmal” (hebraico) e “esmaltium” (latim) que referem-se ao preparo de um verniz vítreo com grande aderência, que era usado para proteger os metais da oxidação.
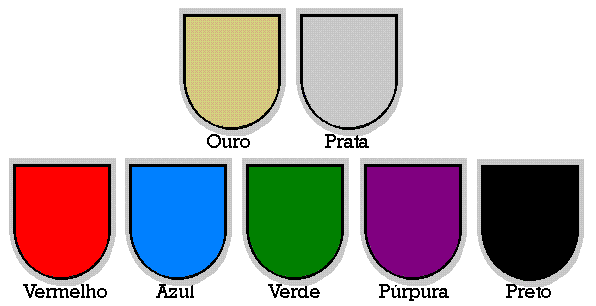
Metais e esmlates utilizados na heráldica.
O ouro pode receber outros nomes, em determinadas circustâncias: nos escudos dos reis passa a ser chamado de sol; nos brasões da nobreza em geral é chamado de topázio. Aqueles que tem este metal no seu escudo estavam obrigados, na idade média, a fazer bem aos pobres e a defender seus senhores, lutando por eles até o final das suas forças.
O metal prata, quando presente nas armas dos soberanos, recebe o nome de lua. A prata está associada com a inocência e pureza, e aqueles que a tinham em seu brasão estavam obrigados a defender as donzelas e a amparar os órfãos.
O vermelho é conhecido também como goles ou gules, recebendo este nome nas armarias da nobreza geral. Quando presente nos escudos dos príncipes, passa a ser chamado de marte, enquanto nos brasões dos nobres titulados é chamado de rubi. Este esmalte é associado com o valor e a intrepidez, e obrigava os seus portadores a socorrer os injustiçados e oprimidos.
O azul chama-se júpiter quando aplicado às armas reais, safira nas armas dos nobres titulados ou simplesmente azul nos escudos da nobreza em geral. Este esmalte significa nobreza, majestade, serenidade, e os seus portadores estavam obrigados a fomentar a agricultura e também a socorrer os servidores despedidos injustamente ou que se encontrassem sem remuneração.
O esmalte verde é conhecido na heráldica como sinople, quando aplicado às armas da nobreza em geral. Para os príncipes e reis passa a ser chamado de vênus, enquanto para a nobreza titulada é referenciado como esmeralda. Um brasão que continha este esmalte obrigava o seu portador a socorrer os lavradores em geral, assim como aos órfãos e pobres oprimidos.
A púrpura significa dignidade, poder e soberania, e aqueles que a usavam em sua cota de armas deveriam proteger os eclesiásticos e religiosos.
Finalmente, o esmalte preto é também chamado de sable nas armarias em geral, mudando o seu nome para saturno nas armas reais e para diamante nas armas da nobreza titulada. O sable está associado a ciência, a modéstia e a aflição, e aqueles que apresentavam este esmalte em seus brasões estavam obrigados a socorrer as viúvas, os órfãos e todas as pessoas dedicadas às letras.
Capítulo III
Os Heraldos e os Reis de Armas
O termo heráldica deriva dos originais heraldo ou arauto. A palavra heraldo vem, segundo alguns autores, do alemão antigo her, heer ou hold, que quer dizer devotado, e segundo outros vem da raiz har da palavra alemã haren, que significa gritar ou chamar.
Os heraldos tinham a missão de anunciar publicamente os nomes dos concorrentes em torneios, levar declarações de guerra ou propostas de paz, contar e anunciar o número de mortos em batalhas.
Na idade média os heraldos eram oficiais de guerra e cerimônias, conservando-se esta atividade até o tempo de Carlos Magno. Pela sua importância social e política, o termo heraldo foi substituído pela designação Rei de Armas, e estes eram sempre escolhidos entre os heraldos mais antigos.
As incumbências dos Reis de Armas eram de zelar por brasões e títulos de nobreza, enfrentando usurpadores de títulos e armarias, publicar datas de celebração das festas e torneios entre as Ordens de Cavalaria, proclamar casamentos, dirigir solenidades e determinar colocação de insígnias e legendas nos túmulos dos príncipes.
O Rei Carlos VIII foi quem criou o ofício de Mestre de Armas, figura que tinha função oficial de regulamentar, no seu reino, o uso de brasões. Nas pompas fúnebres os Mestres de Armas trajavam-se com grande luxo, levando sempre em suas mãos um bastão de nogueira que simbolizava a importância do seu cargo.
Capítulo IV
Principais Figuras Heráldicas
Parte A – O Elmo
Na heráldica, o elmo ou casco do brasão pode apresentar-se em diversas posições e formatos. De acordo com a sua posição pode-se inferir algum informação sobre o seu portador. Por exemplo, um elmo perfilado para o lado esquerdo significa bastardia.
O elmo dos imperadores e reis apresenta-se de frente, com a viseira aberta, sem grades ou então com onze grades no sentido vertical (figura abaixo). Este formato é muito comum na heráldica francesa. Nesta classe de elmos, os mesmo devem ser representados no metal (cor) ouro. Os príncipes herdeiros, descendentes de imperadores ou reis, apresentam seus elmos semi-abertos e no metal prata. Os altos dignatários, como os duques, usam o elmo também em prata e com nove grades. Os elmos dos marqueses são muito semelhantes aos dos duques, exceto pelo número de grades, totalizando sete. Os condes e viscondes tem o elmo representado em prata bronzeada, sendo que na França os elmos desta categoria são de aço, perfilados, e apresentam apenas três grades.
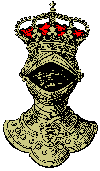
Representação de um elmo de rei ou imperador.
Na heráldica portuguesa o elmo é geralmente de prata, guarnecido de ouro e com o estofo da mesma cor do campo. Se este for de ouro ou de prata o estofo deve ser amarelo ou branco, respectivamente.
Quanto à situação do elmo sobre o escudo é interessante observar que, se o indivíduo for fidalgo há pelo menos quatro gerações, o elmo deve ser representado olhando para a direita e com a viseira levantada (aberta). Para os nobres até três gerações o elmo também deve ser representado olhando para a direita, mas a viseira deve ser representada fechada.
Parte B – O Leão
O leão é uma das figuras mais empregadas na heráldica, sendo encontrado nos brasões de inúmeras famílias e nas armas de diversos países.
Em medalhística podem ser encontradas ordens tendo o leão como tema e motivação: Ordem do Leão de Zaehring, de 1812; Ordem do Leão de Ouro, organizada em 1079 por Frederico II; Ordem do Leão e do Sol, da Pérsia, fundada em 1808; Ordem do Leão Neerlandês, de 1815, organizada por Guilherme I, entre outras.
As diversas posições com que se apresenta o leão são mostradas na figura seguinte.
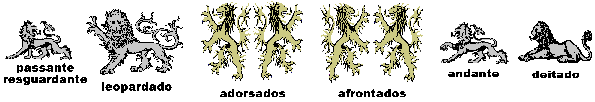
Algumas posições usuais na representação heráldica do leão.
No campo do brasão podem aparecer um ou mais leões, sendo que o número total não pode ser superior a dezesseis.
Nos brasões infamados, assim classificados pela prática condenável do seu dono, caso exista a figura de um leão, este é representado desprovido de cauda e dentes.
Às vezes o leão aparece composto com outros animais, como a águia. Neste caso, passa a chamar-se Grifo. Esta peça, com a parte superior de águia e corpo de leão, é encontrada nos brasões de muitas famílias, como por exemplo dos Bachasson, Dauyat e Doriac.
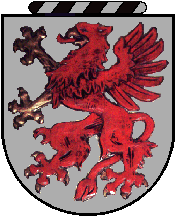
Brasão de armas destacando-se a figura do grifo.
A presença do leão no brasão de armas insinua força, grandeza, coragem, nobreza de condição. Também caracteriza domínio e proteção, condições que deve ter um superior sobre aqueles que domina.
Nos brasões portugueses e espanhóis o leão representa, em muitos casos, aliança com a casa real de Leão (Espanha) ou concessão por ela outorgada.
Parte C – Outros Animais Quadrúpedes
O leopardo apresenta-se nos brasões da maneira chamada “passante”, com a pata dianteira erguida. A pantera também é representada passante, o tigre correndo, o urso pode ser rompante (em posição de combate), passante ou levantado. O lobo é representado andante, com a pata dianteira levantada. É muito frequente na armaria vasco-navarra, já que é insígnia da batalha de Arnigorriaga.
O cavalo é representado marchando, o touro e a vaca parados ou andantes, e o javali andante e de perfil. O coelho e a lebre podem aparecer passantes, correndo, deitados ou como presa.
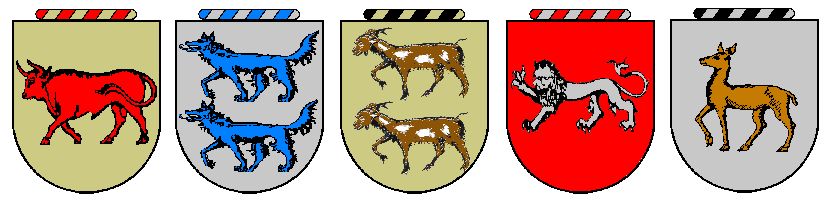
Alguns animais quadrúpedes utilizados na heráldica.
Parte D – O Castelo
Os castelos tiveram uma importância muito grande nos tempos medievais, pois eram poderosos baluartes de defesa e residência de imperadores e reis. No seu interior reuniam-se os exércitos, camponeses e vassalos, além dos rebanhos e toda produção da terra, que ficava a salvo da cobiça dos inimigos. Esses castelos tinham meios próprios de subsistência, visto que muitas vezes eram assediados e cercados por longo tempo.
A figura do castelo, por tais condições e por seu simbolismo, é muito empregada na heráldica, obedecendo a determinados critérios para seu desenho. Uma regra geral, nem sempre observada na prática, estabelece a composição entre metais e esmaltes: se o castelo for desenhado com um esmalte (cor), as suas portas devem ser de metal; quando o castelo é desenhado em ouro, as aberturas (portas e janelas) deverão ser representadas em vermelho; se o castelo for de prata, as aberturas devem ser representadas em preto.
O castelo não deve ser confundido com a torre. O seu desenho deve apresentar-se rigorosamente em um só bloco, com uma porta e duas janelas, o todo sobreposto por três torres, geralmente com a do meio maior que as das laterais.
A presença do castelo em um brasão de armas significa que o seu portador participou com destaque em tomadas de assalto, ou despojos conquistados. Quando representado de portas abertas indica sucesso na defesa ou tomada.
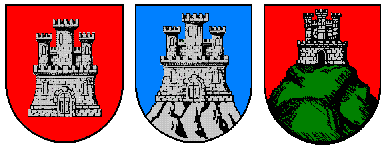
Alguns exemplos de castelo em brasões de armas.
Tanto nos brasões portugueses quanto nos espanhóis o castelo representa, muitas vezes, aliança com a casa real de Castela. Nos brasões portugueses concedidos na segunda dinastia, os castelos são alusivos a feitos de armas praticados no ataque ou defesa de praças de guerra do norte da África e outras conquistas. Os castelos sobre ondas representam feitos ligados a praças marítimas.
Finalmente, se o castelo for representado em prata sobre um campo de azul, pode-se afirmar que o seu possuidor era pessoa de grande virtude.
Parte E – A Torre
A torre tem seu desenho próprio, não devendo ser confundida com um castelo. A palavra provém do latim “turre”, é uma peça que se apresenta isolada e, conforme o seu desenho, tem sua significação. A torre é parte de destaque do castelo e geralmente é representada com uma porta e duas janelas. A torre mais alta ou de maior proeminência do castelo é chamada de torre de homenagem; quando aparece com três torres sobrepostas se diz donjonada; quando podem ser notadas as janelas, esclarecida; quando aparece o teto, coberta; quando tem a porta com grade e pontas na parte inferior, é gradeada; quando a torre vem com chamas nas janelas e sobre as ameias ou seteiras se diz ardente. A torre apresenta o seu corpo na forma arredondada. Já o torreão constitui uma derivação da torre original, pois a forma do seu corpo é quadrada ou retangular, com uma porta e quatro ameias.
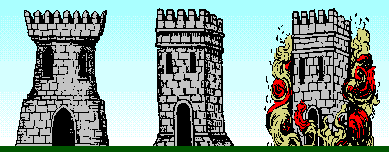
A torre, o torreão e o torreão ardente.
Parte F – A Flor-de-lis
Na heráldica a figura da flor-de-lis tem muita importância, não só porque simboliza e fixa características ligadas à família, pessoas, locais, como por ser uma peça constantemente encontrada nos brasões franceses, isto por ter sido este o símbolo da sua monarquia.
A flor-de-lis é símbolo de poder e soberania, assim como de pureza de corpo e alma, candura e felicidade.
A origem do símbolo é muito controvertida e o que se sabe é que seu surgimento não data de pouco tempo. Sabe-se que foi usada nas armas da França em 496, na vitória de Tolbiacum (Zulpich), onde os francos de Clodoveu, derrotaram os alemães e coroaram-se de lírios. Seu desenho era colocado no manto de reis já na época pré-cruzada, na indumentária de luxo dos reis de armas, nos pavilhões, nas bandeiras e, ainda hoje, em vários brasões de municípios franceses.
Garcia IV, rei de Navarra, que viveu pelo ano de 1048, passou a adotar o desenho como símbolo de seu reinado, após ter visto uma imagem de Nossa Senhora desenhada no fundo de um lírio e logo após ter se curado de uma grave enfermidade.
No ano de 1125, a bandeira da França apresentava o seu campo semeado de flores-de-lis, o mesmo acontecendo com o seu brasão de armas até o reinado de Carlos V (1364), quando estas passaram a ser apenas em número de três. Este rei adotou oficialmente o símbolo como emblema, para honrar a Santíssima Trindade.
Outros historiadores relatam que antes disso o símbolo começou a ser utilizado no reinado de Luiz VII, o Jovem (1147), e como emblema da cidade de Florença. Além disto, aparece em numerosos brasões desde o século XII. Quanto a esse rei, foi ele o primeiro dos reis da França a servir-se desse desenho para selar suas cartas patentes, principalmente devido à alusão ao seu nome Luiz, que então se escrevia “Loys”. Os reis Felipe Augusto e S. Luiz, conservaram o lis como atributo real, o que seus descendentes perpetuaram.
Alguns heraldistas afirmam que a flor-de-lis teve sua origem na flor-de-lótus do Egito, outros que sua origem provem da alabarda ou lírio, um ferro de três pontas que se colocava, fincados, nos fossos ou covas para espetar quem neles caísse e também da flor do lírio ou da íris cuja semelhança é encontrada quando as analisamos de perfil. Ainda outra possível origem é aventada, a que seja uma cópia do desenho estampado em antigas moedas assírias e muçulmanas.
A flor-de-lis deve ser representada por desenhos padronizados, jamais feitos livremente. São brasonados ao natural, mas podem ter cor de um esmalte ou de um metal.
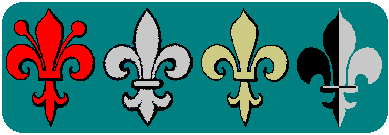
A flor-de-lis em várias representações.
Quando acontece de um brasão ser carregado de flores-de-lis, o que é comum em brasões franceses, se diz flordelizado e se a mesma aparecer cortada ou sem pé, então deve ser dita de “pé morto”; quando a representação vier acompanhada de dois botões ladeando uma pétala de maior tamanho, é denominada flor-de-lis florentina. Como timbre não é comum. Todavia aparece nos brasões de armas dos Macieira, Macoula e Maciel.
As flores-de-lis são muito frequentes nos brasões portugueses. Representam, em geral, uma concessão dos reis da França, principalmente quando assentam sobre campo azul, e só em casos raros, como o dos Nápoles e dos Lacerda, representam parentesco ou aliança com a Casa Real francesa.
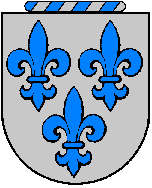
Brasão dos Nápoles, contendo flores-de-lis por ligação com a Casa Real francesa.
Parte G – A Cruz
Na heráldica, a aplicação da cruz é muito ampla. Isto decorre principalmente da enorme quantidade de formatos que a ela são dados na confecção dos brasões. Além disto, há um vasto uso na heráldica religiosa, tumular e na confecção de condecorações, bandeiras e insígnias. A correta definição de cruz é a de uma figura formada por uma pala e uma faixa cruzadas, mas sem continuidade entre elas.
Um dos formatos mais primitivos da cruz foi usado pelos gregos e pelos egípcios há 5 mil anos e tinha a forma de um “T” encimado por um anel, símbolo de divindade, e que se chamava Cruz de Ankl.
A primeira vez que a cruz foi oficializada como símbolo, neste caso de fé, aconteceu no reinado de Constantino. Isto ocorreu devido ao imperador ter sido, surpreendentemente, vencedor da batalha contra Mexêncio. Daí por diante, na vanguarda do exército constantino, sempre era conduzido um estandarte composto por uma cruz com a legenda “IN HOC SIGNO VINCES” (com este sinal vencerás). O uso da cruz como elemento de brasão de armas nasceu com as cruzadas. As grandes ordens de Cavalaria como São João, dos Templários, de Calatrava, de Malta e outras escolheram a cruz como seu símbolo. Os duques de Saboya trazem em seu escudo uma cruz branca como lembrança de terem socorrido a Rhodes contra os turcos. Muitas famílias da nobreza européia trazem a cruz em seus escudos, como lembrança de terem tomado parte nas cruzadas. Os contingentes das cruzadas de diferentes países distinguiam-se no uso da cruz: os escoceses usavam a Cruz de Santo André; os ingleses, uma cruz de ouro; os alemães, de negro; os italianos, de azul; e os espanhóis de vermelho. Eduardo III da Inglaterra, reinvindicando a Coroa da França, adotou a cruz vermelha para seu exército em 1335 e a França, para evitar confusão, ficou com o branco. Enfim, ainda hoje a Cruz Vermelha de São Jorge caracteriza a Inglaterra, assim como, depois de outra mudança, a cruz branca caracteriza a Itália. Portugal ficou caracterizado pela cruz azul que o conde de São Henrique trouxe para a Terra Santa.
Na heráldica portuguesa, desde 1459, encontra-se a cruz em muitos brasões. Quanto a heráldica brasileira, muitas famílias apresentam a cruz sob várias formas. Entre os barões, encontra-se, por exemplo, a cruz nos sobrenomes Abadia, Alegrete, Catumbi, Guarulhos e Saquarema, entre outros.
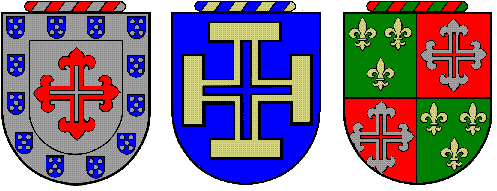
Exemplos de brasões de armas contendo cruzes.
Parte H – As Figuras Quiméricas
As chamadas figuras quiméricas surgiram da imaginação dos poetas e cantadores da idade média, provavelmente inspirados pela mitologia fantástica da antiguidade. O uso dessas figuras na heráldica é muito antigo e frequente, aparecendo nos brasões de família pelo simbolismo que podem representar. Existem muitas figuras quiméricas, sendo relacionadas abaixo algumas das principais, na descrição de Silveira (1972).
Grifo – figura com cabeça e garra de leão, asas de águia, orelha de cavalo, com barbatanas ao invés de crinas.
Licórnio ou Unicórnio – animal quimérico que tem forma de cavalo, cauda em ponta e, no centro da testa, um chifre agudo, vindo daí seu nome. Esta figura é muito utilizada na heráldica, fazendo parte de cimeiras, ladeantes, nos escudos de armas e empregada como suportes do brasão.
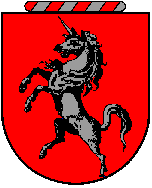
Unicórnio (Licórnio) em brasão de armas.
Dragão – nome que vem do latim “dracone” e do grego “dracon”. Animal fantástico com garras, cauda de serpente terminada em arpão e cabeça de crocodilo. Este ser quimérico está ligado à figura de São Jorge, padroeiro da Inglaterra, sendo também consagrado à Minerva, deusa da caça e da sabedoria, e ao nome da Ordem Chinesa do Dragão.
Esfinge – é um animal com cabeça e busto de mulher, corpo de leão, asas de águia, que entre os egipcios representava o Sol. Essa figura foi difundida pela lenda de Édipo.
Hidra – figura quimérica, representada por uma serpente monstruosa com corpo de dragão alado, com sete cabeças. De acordo com a lenda, habitava os campos de Lerna, na Argólia. É evocada na lenda dos trabalhos de Hércules, que conseguiu matá-la abatendo as suas sete cabeças de uma só vez.
Centauro – monstro fabuloso, que tinha a parte superior do seu corpo de homem e o restante de cavalo. Sua lenda é registrada nos frisos do Partenon, na ilha grega de Creta, e conta o combate dos centauros nas bodas de Piritoo, rei dos Lápidos. Este, auxiliado por Teseu e Hércules, teria eliminado aqueles seres.
Hárpia – figura de um monstro com rosto e pescoço de mulher e o resto do corpo de um abutre, com unhas em forma de garras. Na heráldica é sempre apresentada de frente e com asas distendidas.
Sereia – outro ser fantástico, que tem a parte superior do corpo de mulher e o restante de um peixe. Conforme a lenda, ela costumava cantar para seduzir os pescadores e levá-los para o fundo do mar. É representada geralmente com um espelho na mão direita e um pente na esquerda.
Fênix – figura mitológica que habitava os confins do deserto da Arábia. Tinha possibilidade de viver muitas dezenas de anos e, quando se sentia morrer, fazia seu ninho com ervas e essências perfumadas, ficando ali aninhada, deixando o sol incendiar tudo. Porém, acontecia que sempre ressurgia das suas próprias cinzas.
Pégaso – é o cavalo alado, surgido, segundo a lenda, do sangue de Medusa, no momento em que Perseu lhe cortou a cabeça. Pégaso simboliza a inspiração e o gênio da poesia.
Quimera – monstro com o corpo de um leão, cabeça de cabra e cauda de dragão, soltando fogo pela boca.
Hipógrifo – cavalo alado, com meio corpo de grifo, tendo as patas dianteiras em garras.
Medusa – uma das Górgonas, que tinha lindos cabelos, mas como tivesse ofendido Minerva, a deusa da Sabedoria, teve os seus cabelos transformados em serpentes, sendo depois a sua cabeça decepada por Perseu.
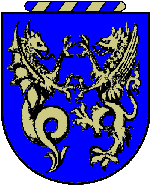
Dragão e grifo batalhantes, no brasão de Pêro Cardoso (Portugal, 1580).
Capítulo V
A Nobreza
Utiliza-se este substantivo para denominar um conjunto de indivíduos que goza, em virtude de transmissão legal hereditária, de privilégios políticos e direitos superiores aos da maioria da população. O princípio de tudo está nas sociedades primitivas, quando os homens mais fortes e hábeis tornavam-se chefes de tribos ou clãs. Frequentemente havia um corpo de indivíduos que o apoiava e que adquiria prestígio em virtude do poder do chefe. Mais tarde essa casta especial transmitia aos seus descendentes os privilégios de que gozava. Em fase mais avançada da história, a riqueza ou a influência política muitas vezes permitia aos seus possessores ganhar o estado de nobreza. Nas nações da moderna Europa a nobreza teve origem na aristocracia feudal. A partir do século XI os nobres tomaram os nomes de seus domínios territoriais, de seus castelos ou de povoações sob seu domínio. Daí a partícula “de”, para os franceses e “von” para os povos germânicos. Em Portugal a monarquia liberal criou novos titulares e alargou muito as honras da nobreza, distinguindo-se não só militares e políticos como também escritores, artistas, diplomatas, comerciantes e banqueiros. Depois da proclamação da república, um decreto de 18 de outubro de 1910 aboliu os títulos nobiliárquicos, distinções e direitos de nobreza.
A aristocracia ou segunda nobreza é definida como a subinfeudação da grande nobreza. Nos séculos VIII a XI dividia-se em ricos-homens, infanções, cavaleiros e escudeiros.
Ricos-homens: os senhores mais poderosos, pois reuniam a fidalguia de nascimento, a autoridade e prestígio de cargos públicos mais elevados.
Infanções: nobres de raça, mas não revestidos de magistratura civil ou militar. A partir de meados do século XIV a palavra foi substituída pelo termo fidalgo.
Cavaleiro: todos que eram admitidos à confraria militar medieval da cavalaria e também homens livres que podiam custear por si cavalos e armas e ir à guerra, recebendo, por isso, certos privilégios.
Escudeiros: eram nobres ou não, que tinham por dever seguir, cada um, o seu cavaleiro, ajudando-o a vestir as armas e combatendo na retaguarda dele. A idade que se passava a escudeiro era a de 14 anos. Antes disso os mancebos nobres costumavam servir como pajens ou “donzéis” nos paços dos grandes senhores.
Capítulo VI
Títulos de Nobreza
A ordenação moderna dos títulos de nobreza é a seguinte:
Príncipe – do latim “princeps”, “principis” (primeiro). Filho primogênito do rei, chefe de um principado, filho ou membro de família real. É o título de nobreza mais elevado.
Duque – do latim “dux”, “ducis” (aquele que conduz).
Marquês – título intermediário entre o de Duque e o de Conde.
Conde – do latim “comes”, “comitis” (companheiro).
Visconde – do latim “vicecomes” (viceconde). Dado principalmente aos filhos caçulas dos condes e sua descendência.
Barão – homem, varão, pessoa poderosa pela posição ou riqueza.
Cavaleiro – do latim “caballarius” (escudeiro). Membro de Ordem de cavalaria.
Entre os títulos de nobreza figuram também as Grandezas de Espanha, títulos espanhóis concedidos a estrangeiros ilustres.
Título de Príncipe
O título de príncipe, em praticamente todos os países que tiveram ou têm monarquia, não é concedido, mas sim herdado dos pais Reais desde o nascimento. Na Espanha, por exemplo, o herdeiro da Coroa ostenta o título de Príncipe das Astúrias. Isto acontece desde o reinado de Don Juán I, que o concedeu a seu filho, o Infante Don Enrique (mais tarde Enrique III, 1379-1406). Os raros casos de concessão do título para um descendente não real espanhol foram suspensos e substituídos por títulos de duque e/ou conde. Na Espanha, o decreto de 4 de junho de 1948 restabeleceu a validade de títulos nobiliários.
Título de Duque
Um dos primeiros a se intitular Duque foi o Conde de Castilla, Fernán Gonzáles, em 1029, que se auto-apelidava Duque dos Castellanos. Mas os primeiros ducados considerados como títulos nobiliários e com caráter hereditário só se homologaram no reinado de Don Enrique II, que titulou Beltrán Duguesclin como Duque de Sória e de Molina, em 1370, e Don Fadrique de Castilla, seu filho, como Duque de Benavente. O primeiro ducado reverteu à Coroa por compra e o segundo por morte, na prisão do Infante Don Fadrique, por se ter colocado contra seu irmão, o rei Don Juan I de Castilla. Daquele tempo até o reinado de Felipe II houveram vinte fidalgos que ostentaram o título de Duque. Na Espanha este título era designado para o principal e mais importante fidalgo general do rei. Em Portugal era usado tão somente para os filhos do rei ou parentes mais próximos e, como no restante da Europa, teve maior uso no século XIV. Naquele país o titular gozava da mais alta autoridade e de mais extensa jurisdição. Suas funções incluíam o comando geral dos exércitos do país. Na Itália confiava-se aos Duques a administração militar e civil de cidades e províncias.
Título de Marquês
O Marquês é definido pelos escritos históricos como “senhor de alguma terra que está em comarca do reino”. Na Catalunha foram intitulados Marqueses os governadores da marca hispânica, costume seguido pelos Condes de Barcelona. O marquesado mais antigo remonta a Henrique II de Castela que, em 1336, concedeu o título a Don Alonso de Aragón, tio do rei Don Pedro de Aragón. Em Portugal, também o marquês era o governador das marcas fronteiriças.
Capítulo VII
Os Brasões da Sala de Sintra
O rei Dom Manoel I, o Venturoso (1495 a 1521), foi quem fez reunir pelo reino de Portugal todos os brasões, insígnias e letreiros, para acabar com o livre arbítrio no uso das armas e concessão de brasões. Com este material, transcrito e falado, planejou fazer um livro onde fossem pintados os brasões. Consta que existiram três livros de brasões, dos quais restaram apenas dois. O Livro Antigo dos Reis d’Armas, escrito por António Godinho, escrivão da Câmara Real, teria desaparecido quando um terremoto destruiu o Cartório da Nobreza. Restaram o Livro do Armeiro-Mor, datado de 15 de agosto de 1509, escrito por João Rodrigues, Rei de Armas de Portugal e o Livro da Torre do Tombo, escrito pelo Bacharel Antonio Rodrigues, também Rei de Armas de Portugal.
Após a conclusão da obra o rei mandou pintar o teto de um palacete, localizado no Paço de Sintra, com os brasões das 72 principais famílias lusas da época, ilustres em honra, história e bens. A execução ocorreu entre os anos de 1515 e 1540 e todos os brasões estão assentes no ventre de veados, sobre cujas cabeças repousa o timbre de cada família. No centro do teto da sala, que mede 14 por 13 metros, encontram-se as armas do rei, circundadas por seis brasões portugueses representando sua descendência masculina (os príncipes) e dois brasões em lisonja representando sua descendência feminina (as princesas).
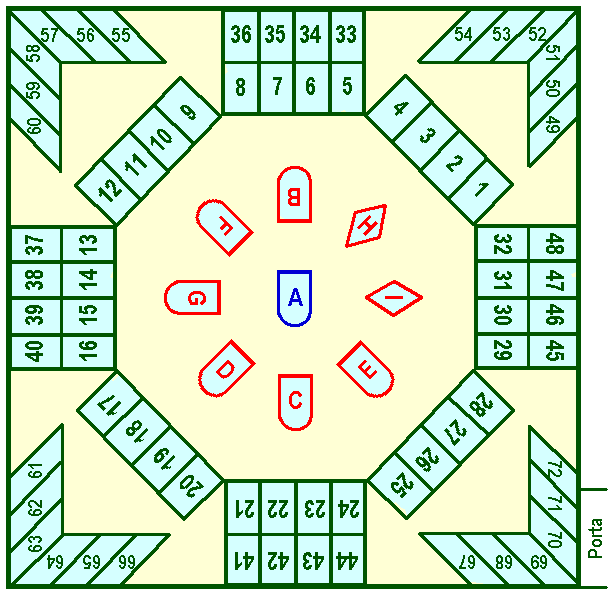
Diagrama esquemático do teto da Sala de sintra, em Portugal. Ao centro, o brasão do rei, cercado pelos brasões de sua descendência masculina e feminina. No entorno, os brasões das 72 famílias ilustres à época (1515 a 1540).
| A – Armas do rei Dom Manuel B – Infante Dom Yoam C – Infante Dom Luis D – Infante Dom Fernando E – Infante Dom Afonso F – Infante Dom Enrique G – Infante Dom Duarte H – Infante Dona Isabel I – Infante Dona Beatris |
||
| 1 – Noronha 2 – Coutinho 3 – Castro 4 – Ataíde 5 – Eça 6 – Menezes 7 – Castro (outros) 8 – Cunha 9 – Sousa 10 – Pereira 11 – Vasconcellos 12 – Melo 13 – Silva 14 – Albuquerque 15 – Andrada 16 – Almeida 17 – Manoel 18 – Febos Monis 19 – Lima 20 – Távora 21 – Henriques 22 – Mendonça Furtado 23 – Albergaria 24 – Almada |
25 – Azevedo 26 – Castelo-Branco 27 – Abreu 28 – Brito 29 – Moura 30 – Lobo 31 – Sá 32 – Corte-Real 33 – Lemos 34 – Ribeiro 35 – Cabral 36 – Miranda 37 – Tavares 38 – Mascarenhas 39 – Sampaio 40 – Malafaia 41 – Meira 42 – Aboim 43 – Carvalho 44 – Mota 45 – Costa 46 – Pessanha 47 – Pacheco 48 – Souto-Maior |
49 – Lobato 50 – Teixeira 51 – Valente 52 – Serpa 53 – Gama 54 – Nogueira 55 – Betancour 56 – Goes 57 – Pestana 58 – Barreto 59 – Coelho 60 – Queirós 61 – Ferreira 62 – Siqueira 63 – Cerveira 64 – Pimentel 65 – Goio 66 – Arcas 67 – Pinto 68 – Gouvea 69 – Faria 70 – Vieira 71 – Aguiar 72 – Borges |
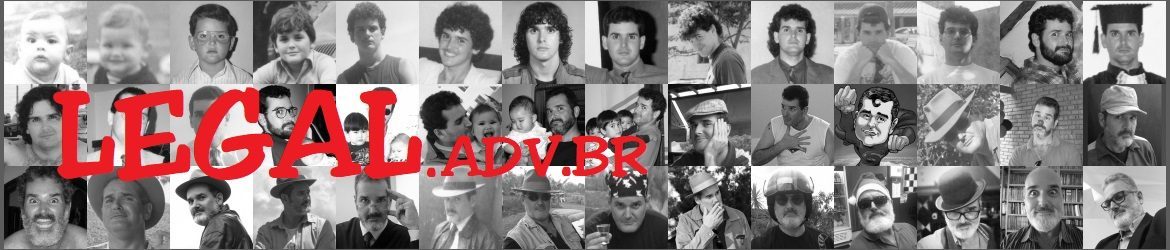
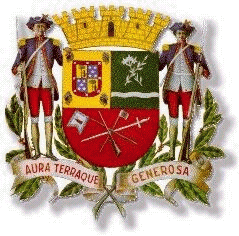 O Brasão de Armas de São José dos Campos, de autoria do Dr. Afonso de Taunay e desenhado por J. Wash Rodrigues, foi aprovado pela Lei Municipal nº 180 de 23 setembro de 1926. Voltou a ser símbolo municipal pela Lei nº 19 de 26 de agosto de 1948 e teve seu desenho restaurado através da Lei nº 2178 de 03 de maio de 1979 com as seguintes características:
O Brasão de Armas de São José dos Campos, de autoria do Dr. Afonso de Taunay e desenhado por J. Wash Rodrigues, foi aprovado pela Lei Municipal nº 180 de 23 setembro de 1926. Voltou a ser símbolo municipal pela Lei nº 19 de 26 de agosto de 1948 e teve seu desenho restaurado através da Lei nº 2178 de 03 de maio de 1979 com as seguintes características: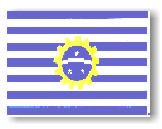 Instituída pela Lei 655 de 02 de fevereiro de 1960. Desenho do estudante da escola João Cursino, Sr. João Vitor Guzzo Strauss, vencedor do concurso promovido pela municipalidade.
Instituída pela Lei 655 de 02 de fevereiro de 1960. Desenho do estudante da escola João Cursino, Sr. João Vitor Guzzo Strauss, vencedor do concurso promovido pela municipalidade.