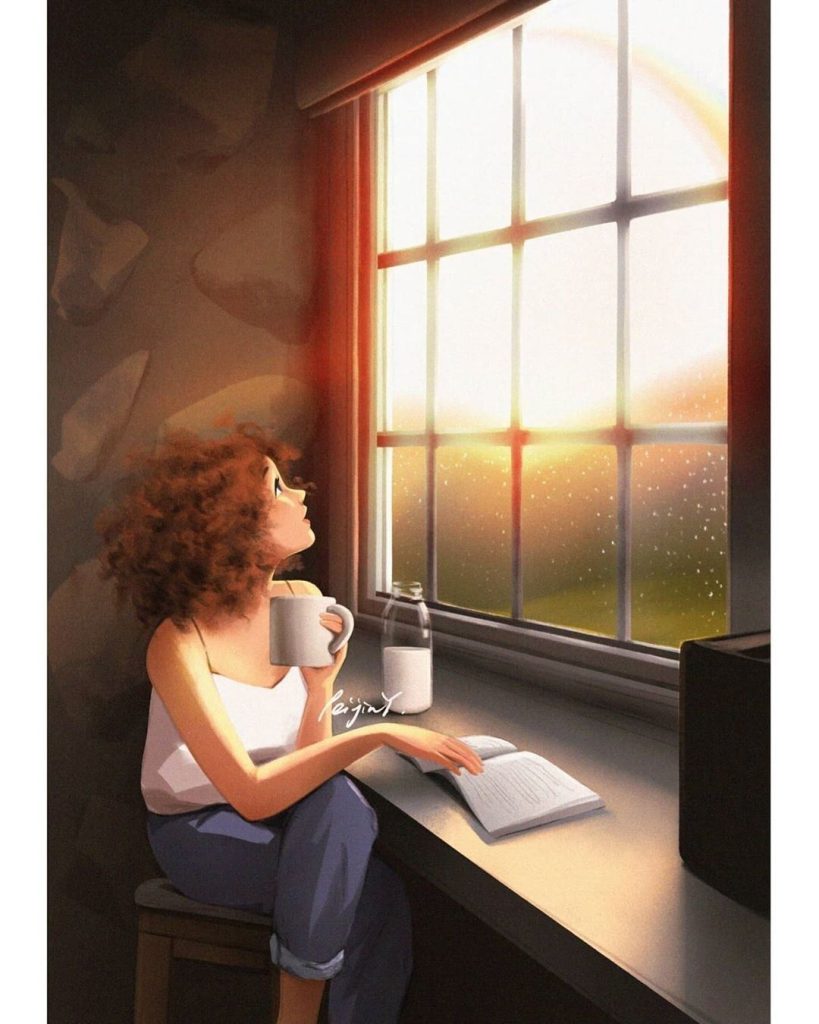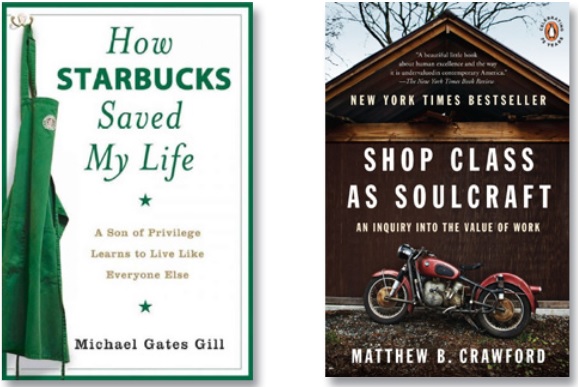[Eis uma resenha saborosíssima publicada em 2015 pelo amigo virtual Jarbas Novelino lá no BTS – Boletim Técnico do Senac e também disponível em seu blog Boteco Escola. Dá no que pensar. Muito. Eu mesmo, por mais que seja apaixonado pelo trabalho que desenvolvo na área de licitações públicas – afinal de contas trata-se do desenvolvimento de todo um procedimento revestido de uma estrutura jurídica visando atingir algum fim específico para viabilizar que o Poder Público tenha a capacidade de atender à população –, ainda assim por diversas vezes já pensei em voltar aos românticos tempos da adolescência, quando meu maior prazer era trabalhar numa bicicletaria de bairro da periferia, de sol a sal, sujo de graxa, com pouca grana, mas extremamente realizado a cada serviço concluído. Feliz mesmo. Leiam. De minha parte vou ver se encontro esses livros por aí…]
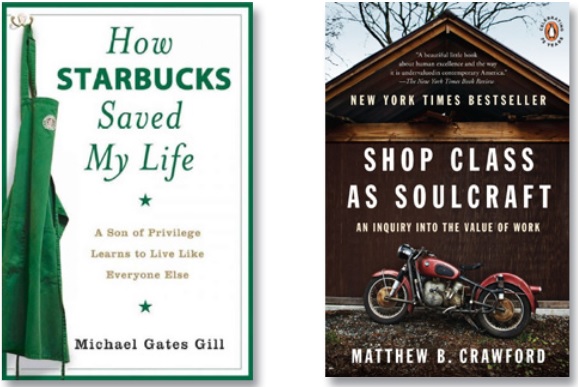
CRAWFORD, Matthew B. Shop Class as Soulcraft: An inquiry into the value of work. New York: Penguin Books, 2009. 245 p.
GUILL, Michael Gates. How Starbucks Saved My Life: A son of privilege learns to live like everyone else. New York: Gotham Books, 2007. 266 p.
Trabalho é Dignidade: Visita a uma cafeteria e a uma oficina mecânica
O título desta resenha é uma afirmação do escritor F. Scott Fitzgerald, utilizada por Michael Gates Gill para definir o trabalho duro, intenso e comprometido de seus companheiros numa casa de café em Nova Iorque. Boa parte dos companheiros de Gates é composta por jovens negros que tiveram infância e adolescência vividas em duras condições dos bairros degradados da grande cidade americana. No trabalho e pelo trabalho, esses jovens ganharam a dignidade que lhes foi negada desde o nascimento. A afirmação de Fitzgerald é um convite para reflexões sobre relações entre o trabalhador e suas atividades. Trabalhar pode ser apenas um meio de ganhar a vida, mas pode também ser um modo de estar no mundo como um cidadão ou cidadã que tem orgulho do que faz.
O trabalho tem valores que lhes são intrínsecos. Pode ser uma atividade que nos traz muita satisfação, ou pode ser uma atividade vista apenas como meio de ganhar a vida. Neste último caso, ele produz a famosa síndrome da sexta feira, identificada em expressões de alívio de trabalhadores que proclamam alegria por escapar da chatice de suas profissões nos finais de semana.
Há quem sugira que a satisfação no trabalho deve ser responsabilidade do trabalhador. Nessa linha, competiria ao profissional descobrir como ele pode dar sentido ao que faz, não importando muito a natureza e conteúdo de suas atividades. Essa solução de tons moralistas não leva em conta o conteúdo do trabalho. De acordo com ela, qualquer profissão pode ser digna, dependendo da maneira pela qual o profissional lhe dá significação.
Estudos clássicos sobre degradação do trabalho como o de Paul Willis (1991) e o de Jean Rousselet (1974) mostram trabalhadores totalmente insatisfeitos com o que fazem para ganhar a vida. Na pesquisa feita por Willis junto a adolescentes ingleses de extração operária, as reações a propostas conformistas de valorização de um trabalho degradado são caracterizadas por revolta e ironia. No estudo feito por Rousselet sobre a situação laboral francesa no pós 68, o trabalho é visto com extremo pessimismo. Convém aqui oferecer uma mostra das observações feitas pelo sociólogo francês:
O fato de serem os valores relacionados com o trabalho os mais ameaçados hoje em dia não encontra apenas explicação no aparecimento de novas necessidades de consumo ou na generalização das inquietações juvenis.
Se tantos jovens, e até adultos, não hesitam em testemunhar nas suas opiniões ou condutas uma surpreendente indiferença por essa forma de atividade humana [trabalho], considerada, outrora, como essencial, é porque também, por seu lado, o progresso tecnológico começa a esvaziar a atividade laboral de significado moral, desumanizando-a de forma desordenada. (ROUSSELET, p. 137)
Essa visão pessimista do destino do trabalho na sociedade que se convencionou de chamar de pós-industrial perpassa toda a obra de Rousselet. Mais à frente, o autor observa:
O frequente exemplo das derrotas de toda a espécie só reforça em grande parte da juventude a ideia de que não existe, de fato, qualquer possibilidade razoável para a maioria dos trabalhadores escapar à mediocridade de sua condição e do determinismo sociocultural (ROUSSELET, p.172)
Análises como as de Willis e Rousselet não são muito lembradas nos dias de hoje. Elas contrariam o otimismo que predomina entre os formadores de opinião, educadores inclusos, que promovem a visão de que o trabalho está cada vez mais complexo, criativo e interessante por causa do ingresso crescente de tecnologia nas atividades produtivas. Há, porém, autores que apresentam um panorama em que a introdução de novas tecnologias segue caminho inverso, tendo como resultado empobrecimento do conteúdo do trabalho.
O trabalho numa oficina mecânica
Uma análise do valor do trabalho que merece atenção apareceu num livro que se tornou bestseller nos Estados Unidos: Shop Class as Soulcraft: An inquiry into the value of work, de Matthew B. Crawford.
Para apreciar Shop Class as Soulcraft é preciso inicialmente considerar quem é seu autor. Os pais de Crawford viveram intensamente os movimentos sociais dos anos sessenta. Seu pai é um cientista que pesquisa e ensina física em grandes universidades dos EUA. Sua mãe é uma ativista social que passou boa parte da vida em comunidades hippies. Na infância e adolescência, o autor não conheceu lares convencionais, pois vivia com a mãe nas comunidades das quais ela era membro muito ativo. Antes de iniciar seus estudos de segundo grau, Matthew Crawford trabalhou como eletricista. E em seus tempos de estudante, voltava a canteiros de obras nas férias de verão para exercer seu ofício na construção civil. No final da juventude, ele se interessou por mecânica de automóveis e, durante algum tempo, esteve empregado numa oficina que preparava carros de corrida. Matthew graduou-se em física. Em seus tempos de universidade encantou-se com filosofia e acabou fazendo mestrado e doutorado nessa área de conhecimento.
Após o doutorado, Crawford conseguiu emprego como executivo de uma organização não governamental, mantida por empresas da área de energia, que atua no campo de pesquisas sobre meio ambiente. Mas, ele não permaneceu muito tempo nesse emprego de prestígio e bem remunerado. Depois de sete meses à frente da organização, pediu demissão, comprou uma oficina de reparo de motos antigas e começou a ganhar a vida como mecânico. Cabe reparar que durante seus estudos de pós-doutorado, Crawford passava boa parte do tempo reparando motos num porão que ele alugou para exercer suas atividades no campo da mecânica.
O livro de Crawford analisa o trabalho a partir das experiências de vida do autor, um intelectual que resolveu deixar a academia para reparar motos que, muitas vezes, já saíram de linha ou cujas fábricas não mais existem. Esse destino profissional não é fruto de algum desastre ou de falta de oportunidades. É uma escolha motivada pela compreensão do que é o trabalho e de que atividades podem ser intelectualmente desafiadoras e psicologicamente compensadoras.
O título do livro faz referência a um ambiente que era comum em escolas americanas na primeira metade do século XX, a oficina (shop class). A Escola Nova e certa saudade das virtudes que eram atribuídas ao trabalho artesanal levaram as escolas americanas a instalar em seus prédios oficinas onde predominavam atividades de marcenaria e mecânica. Tais oficinas não tinham finalidade de capacitar trabalhadores por meio de engajamento dos alunos em atividades que exigiam produção manual de obras, mas a de garantir aprendizagens de valores importantes relacionados com o trabalho. Dos anos de 1970 para cá, há um número expressivo de ferramentas de qualidade em lojas que vendem artigos de segunda mão. Boa parte dessas ferramentas vem de oficinas escolares que foram desativadas. Em seu lugar surgiram laboratórios de informática.
A desativação das oficinas em escolas americanas vem acontecendo em nome daquilo que se convencionou chamar de sociedade do conhecimento. Crawford vê a medida como um engano dos educadores e dos formadores de opinião. Para ele, o fim das oficinas sinaliza falta de compreensão quanto ao significado do trabalho manual. Em sua análise, o autor lembra observação de um dos filósofos de Mileto, Anaxágoras: “somos mais inteligentes que os outros animais porque usamos nossas mãos”. O autor também faz referência à fenomenologia de Heidegger, lembrando que os objetos que manipulamos revelam saberes que estão nas coisas. Essas observações são alguns dos argumentos que Crawford utiliza ao mostrar acerto de sua decisão em deixar um cargo executivo muito bem remunerado para passar boa parte do dia com as mãos sujas de graxa reparando motos. Voltarei a esse contraste entre o trabalho numa oficina e o trabalho na gestão de uma organização que articulava saberes científicos para justificar decisões de empresas da área de energia. Mas, antes disso, convém examinar outros temas que o autor desenvolve em seu livro.
O protótipo de local de trabalho hoje é um espaço onde o profissional dispõe de uma mesa, um computador e outros instrumentos de informação. A visão otimista vê em tal espaço um local típico da sociedade da informação. Crawford, com alguma ironia, apelida tal espaço de cubículo, fazendo referência a Dilbert, The Office, uma história em quadrinhos que mostra os absurdos da vida dos trabalhadores em ambientes burocráticos. Logo depois que concluiu o mestrado, ele acabou conseguindo um emprego numa empresa que produzia resenhas de artigos científicos para sistemas acadêmicos de informação. Ao ingressar em tal atividade no Vale do Silício, o jovem mestre acreditava que faria um trabalho intelectual significativo. Acreditava que sua aprendizagem nos estudos universitários seria expandida com a leitura dos trabalhos científicos que ele deveria fazer para produzir resenhas. Mas, essa esperança logo se desfaz. A empresa de informação que o contratou criou um padrão de resenhas que mecanizou o trabalho. Além disso, estabeleceu cotas absurdas de produtividade. Ao atingir a competência esperada, o autor tinha a inacreditável meta de resenhar 28 artigos diariamente. Cabe aqui uma observação incidental. Na literatura de ficção científica, produção automatizada de textos é explorada no romance de ficção científica The Tin Man (FRAYN, 1965). No ambiente editorial pintado pelo romance há uma máquina que produz automaticamente reportagens, bastando que lhe forneçam alguns termos chave que podem definir acontecimentos merecedores de veiculação pela imprensa. Essa padronização do discurso, permitindo que a produção de textos ocorra de modo automático foi também explorada no campo da inteligência artificial com o programa Eliza, criado por Joseph Weizenbaum (1976). Em todos esses casos, elimina-se o julgamento humano por meio de padrões e rotinas que garantem a produção de textos aparentemente bem articulados. Máquinas e programas produzem tais textos sem qualquer referência à semântica. Ou seja, não operam no território dos significados. Quando os seres humanos operam do mesmo modo, há um completo esvaziamento do conteúdo do trabalho intelectual.
Crawford examina argumento que poderia ser utilizado contra sua crítica ao esvaziamento do trabalho na empresa da área de informação que o contratou, o de que as resenhas deviam ter qualidade porque eram bem aceitas pelo mercado. O autor entende que tal argumento é equivocado quando se examina a questão da qualidade do trabalho. O mercado ás vezes converte em artigos respeitáveis, produtos sabidamente inferiores. Isso explica, segundo Crawford, o sucesso do Windows. E essa respeitabilidade é apenas função do predomínio de algo para o qual não temos alternativa viável. Ao analisar sua experiência no episódio da produção mecanizada de resenhas, o autor insiste na ideia de que é desejável que o trabalho deve ser animado por virtudes que lhes são intrínsecas. Uma atividade esvaziada de conteúdo desestimula o profissional. Fazer bem um trabalho é desejo que nasce do próprio trabalho, não de incentivos ou motivos externos.
A ideia de que ocupações satisfatórias são aquelas cujo conteúdo de trabalho desafia e envolve o trabalhador de modo significativo, destacada no caso do episódio da elaboração de resenhas, perpassa toda a obra. Crawford mostra que o trabalho do mecânico é prazeroso, envolvente e, muitas vezes, mais desafiador do ponto de vista intelectual que as profissões burocráticas, as profissões do cubículo. A identidade profissional do mecânico é significativa no trabalho e na vida. No trabalho ela requer um envolvimento com atividades, desafios e realizações próprias de uma atividade que vale a pena. Na vida, ela oferece muitas satisfações pelo reconhecimento que as pessoas manifestam por alguém cujas obras (reparo de motocicletas) podem ser concretamente apreciadas.
Com o empobrecimento do conteúdo em muitas áreas profissionais, surgiu um movimento que sugere que o trabalho pode ser enriquecido pela criatividade dos trabalhadores. Para examinar tal movimento, Crawford escolhe exemplos apresentados por Richard Florida em The Rise of the Creative Class. Florida afirma que há milhares de novos Einstein, membros de uma classe criativa nos negócios. E essa classe é formada por gente muito jovem capaz de propor mudanças que alavancam lucros das empresas. E Florida, segundo Crawford não identifica esses trabalhadores criativos com grandes executivos, mas com gente do chão de fábrica ou do balcão de loja que contribui com ideias para melhorar continuamente a produção. A medida da criatividade dos novos Einstein é verificada por meio do lucro das empresas. Todo o discurso otimista sobre a suposta criatividade dos empregados não se vincula à satisfação que o trabalho pode assegurar nas atividades cotidianas, mas no sucesso empresarial das pequenas invenções dos novos gênios. O autor critica duramente essa perspectiva de uma criatividade espontânea. Convém citar um trecho da obra de Crawford sobre tal questão:
A verdade, porém, é que a criatividade é um subproduto da mestria cultivada por meio de longa prática. Parece que ela é construída por meio da submissão (pense num músico praticando escalas, ou em Einstein aprendendo álgebra tensorial). Identificar criatividade com liberdade combina bem com a cultura do novo capitalismo, no qual o imperativo de flexibilidade não permite dedicação a uma tarefa por tempo suficiente para desenvolver reais competências. (p. 51)
O que Crawford chama de submissão no texto citado é um mergulho em atividades que envolvem completamente seu executor e exige que ele respeite e aprecie os insumos com os quais interage para realizar uma obra. Esse modo de ver explica a migração do executivo de um escritório de luxo de Washington para o chão de uma humilde oficina de reparo de motos. Nos trabalhos burocráticos atuais, os trabalhadores não percebem claramente qual é o objeto de suas atividades. Não desenvolvem compromisso com obras. Isso, segundo o autor, é acentuado no caso da gestão. Os gestores já não administram produção de obras, administram tão somente satisfação/insatisfação dos empregados.
Volto ao aspecto que mais chama a atenção na história de Matthew Crawford, a saga de um doutor em filosofia que virou mecânico e escreveu um livro para justificar sua decisão radical. A explicação para isso é apresentada mais profundamente no capítulo Thinking as Doing. O autor observa que o atual sistema de ensino privilegia o conhecimento do que (knowing that) que se opõe ao conhecimento do como (knowing how). No campo de preparação para o trabalho, isso gera aspirações pelo exercício de ocupações que não são condicionadas pelas circunstâncias. Mas…”Nós geralmente não encontramos as coisas de modo desinteressado [desencarnado], pela simples razão de que as coisas que não nos dizem respeito são incapazes de resultar em engajamento interessado” (p.163). Em suas análises, Crawford apresenta o trabalho do mecânico como uma atividade que engaja as pessoas em relações significativas com os outros. Esses outros são pessoas, equipamentos, ferramentas, insumos. Todos eles grávidos de significado, em situações desafiadoras. Nessas relações há um saber sempre em construção, pois esse mundo imediato precisa ser transformado de alguma maneira pelo profissional e, ao mesmo tempo, o transforma. O fazer inteligente, necessário para transformar outros significativos, faz do trabalho (trabalho do mecânico) uma atividade que compromete o trabalhador com o resultado de seu trabalho. Em termos cognitivos, trabalhos assim mostram que é preciso fazer para entender. Ao contrário do que sugere o pensamento hegemônico, o fazer tem grande riqueza intelectual. O autor recorre a Heidegger para mostrar isso:
Uma das questões centrais da ciência cognitiva , com raízes na epistemologia predominante, tem sido a de como conceber como nossa mente “representa” o mundo, uma vez que mundo e mente são concebidos como inteiramente distintos. Para Heidegger, não existe o problema de representação do mundo porque o mundo apresenta a si mesmo originalmente como algo no qual já estamos inseridos e excluídos. Os insights do filósofo sobre o caráter situado da cognição cotidiana lança uma luz sobre o conhecimento especializado (expert knowledge), como o de bombeiros e mecânicos, que também está inerentemente situado. (p. 164)
Com a citação que faz referência a Heidegger, eu quis enfatizar as dimensões epistemológicas do fazer propostas por Crawford. Essas dimensões desafiam o lugar comum de um par antitético que assombra a educação, teoria e prática. O filósofo travestido de mecânico mostra que esse tradicional modo de ver é um equívoco que resulta em depreciação de trabalhos nos quais predominam atividades manuais. As transações entre sujeito e objetos naquilo que Heidegger chama de saber local são um conhecimento envolvente e significativo. Sem elas, o saber abstrato, proposicional, o saber do que, não poderia ser elaborado.
Os aspectos epistemológicos propostos por Crawford são interessantes e podem nos ajudar a superar dualismos que acabam resultando em visões equivocadas sobre a natureza do trabalho. Quero encerrar minhas considerações sobre Shop Class as Soulcraft, dando necessário destaque ás análises do autor sobre as dimensões valorativas de trabalhos manuais envolventes como o de mecânico, marceneiro, eletricista. Nessas ocupações, os profissionais, dado seu envolvimento com o significado intrínseco do que fazem, sempre estão comprometidos com a obra. Essa circunstância tem desdobramentos importantes no campo da ética. O atendimento a demandas de qualidade, postas pela natureza dos objetos com os quais o profissional interage, garantem realização de um trabalho que respeita todos os atores diretamente envolvidos. O mecânico tem profundo compromisso com as motos que repara, com os clientes que solicitam seus serviços e com a comunidade de prática com a qual ele compartilha os saberes da profissão. Para tudo isso cabe a frase de Fitzgerald: trabalho é dignidade.
O trabalho numa cafeteria
Outro olhar sobre o trabalho manual e as possibilidades que esse oferece para a realização pessoal é oferecido por livro que conta uma história inusitada: How Starbucks Saved My Life: A son of privilege learns to live like everyone else. A obra narra história de um executivo desempregado que, aos sessenta e três anos começou carreira nova como barista numa loja da Starbucks. O autor do livro é Michael Gates Gill, antigo diretor de criação de uma das maiores agência de propaganda do planeta. Depois de vinte e cinco anos dedicados à corporação, Gates é demitido. Profissional maduro, ele não procura nova colocação no mercado, parte para a carreira solo de consultor. No início, contando com antigos clientes da sua carteira dos tempos em que atuava na agência, consegue alguns contratos. Com o tempo, os clientes vão rareando, até a ocasião em que ninguém mais procura seus serviços. Por acaso, uma gerente da Starbucks lhe pergunta se ele não quer um emprego. Intrigado, mas desesperado com a falta de perspectiva que enfrentava, ele diz que sim. Tempos depois, de acordo com cronograma de recrutamento da empresa, ele é chamado e, apesar de sua idade madura e falta de experiência, é contratado.
Gates entra num mundo inteiramente desconhecido para ele. Seus companheiros de trabalho são muito jovens, quase todos negros, com pouca escolaridade, vindos de famílias desestruturadas. A própria gerente que lhe ofereceu trabalho era uma jovem afro-americana de vinte e oito anos que passara a infância e adolescência em lares provisórios. O autor, pelo contrário, era filho de família da elite, graduado por Yale.
O livro narra aventuras de aprendizagem das tarefas típicas de um barista da Starbucks, envolvendo higienização da loja, elaboração de vinte e oito diferentes tipos de café, atividades de abertura e de fechamento da loja, cuidados de reposição de itens do cardápio, operação do caixa, relacionamento com clientes. Para Gates não foi fácil aprender e desempenhar algumas atividades que demandavam muita agilidade física e força. Além disso, sua inabilidade para lidar com dinheiro gerou pavor no momento em que foi escalado para operar um dos caixas da loja. Ao mesmo tempo em que ele vai aprendendo a profissão de barista, cresce sua admiração por boa parte de seus parceiros na loja. Muito jovens, pobres, com experiências que beiraram a marginalidade, os companheiros de Gates trabalham como muita competência e desenvolvem um sentimento de dignidade que ele passa a admirar. Ao mesmo tempo, o antigo diretor de criação vai conseguindo enxergar que o trabalho braçal na loja de café demanda inteligência e envolvimento dos quais ele sequer suspeitava em seus tempos de executivo.
Gates compara sua vida de barista com sua vida de executivo. E, surpreendentemente, sugere que suas atividades na cafeteria são muito mais envolventes e compensadoras que suas atividades como publicitário. O livro é de uma literatura leve, sem voos profundos como os realizados por Crawford em Shop Class As Soulcraft. Mas, vale a pena considerá-lo em reflexões sobre o trabalho. O autor viveu uma experiência rara para os filhos da elite e apresenta uma contribuição que pode iluminar nossa compreensão sobre o significado do trabalho que envolve o profissional e dá sentido à sua vida.
Gates e Crawford falam de dignidade do trabalho com base em experiências que, infelizmente, merecem pouca atenção em análises sobre educação profissional e tecnológica. Vale a pena visitar a obra de um e outro para rever modos de olhar para a formação de trabalhadores em todos os níveis de ensino. Vale a pena visitar a obra de um e outro para verificar como se manifestam os valores que são intrínsecos ao trabalho.
Referências
FRAYN, M. The Tin Man. New York: Ace Publishing Corporation, 1965.
ROUSSELET, J. A Alergia ao Trabalho. Lisboa: Edições 70, 1974.
WEIZENBAUM, J. Computer Power and Human Reason: From judgment to calculation. San Francisco: W. H. Freeman and Company, 1976.
WILLIS, P. Aprendendo a Ser Trabalhador: Escola, resistência e reprodução social. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.
Jarbas Novelino Barato. Professor. Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em Tecnologia Educacional pela San Diego State University (SDSU).