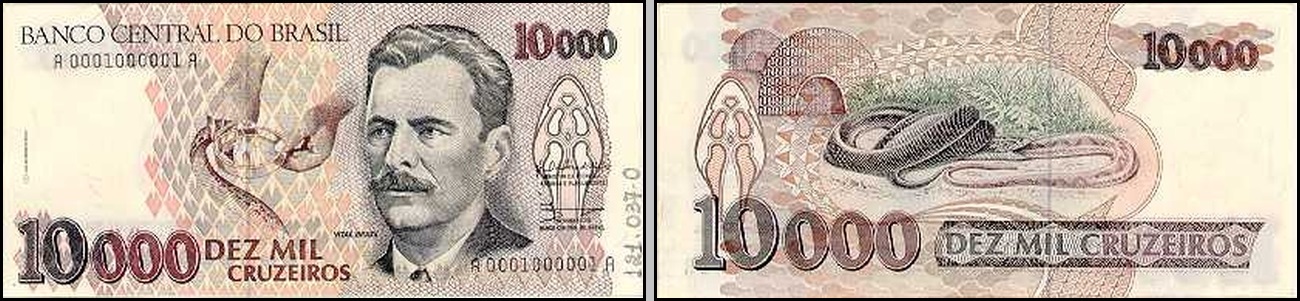A mais breve moeda do Brasil

Cruzeiro Real
(CR$1,00 = Cr$1.000,00)
Com o afastamento de Collor, assumiu seu vice: Itamar Franco – também conhecido como “presidente tampão”, já que assumiu o restante do mandato, até o final de 1995. Seu maior feito foi o relançamento do Fusca, que havia deixado de ser produzido no Brasil em 1986, mas voltou à linha de produção entre 1995 e 1996. Ah, sim. Ele também foi o responsável pela estabilização da a moeda brasileira.
Mas vamos com calma. Para não perder o costume, mais uma vez houve o corte de três zeros no sistema monetário nacional e foi instituída como nova moeda o Cruzeiro Real (CR$) – o que se deu através da Medida Provisória nº 336, de 28 de julho de 1993, mais tarde convertida na Lei nº 8.697, de 27 de agosto de 1993. Assim, nesse novo sistema, 1 Cruzeiro Real equivalia a 1.000 Cruzeiros.
E, para também não perder o costume, foi novamente implementada a estratégia de apor um carimbo identificador nas cédulas mais altas do sistema anterior e que desta vez (vejam só!) era redondo, mas sem bordas, com as próprias letras dando-lhe forma. Assim, as cédulas do sistema anterior de 50.000, 100.000 e 500.000 Cruzeiros, após serem devidamente carimbadas, passaram a ser respectivamente de 50, 100 e 500 Cruzeiros Reais.



Como a inflação continuava em plena debandada morro abaixo, já em outubro de 93 foram lançadas as notas de 1.000 e 5.000, sendo que a de 50.000 viria juntar-se a elas somente em agosto de 94.
– CR$ 1.000,00. Na face possuía a efígie de Anísio Spínola Teixeira (1900-1971), tendo à esquerda vista parcial da Escola Parque, integrante do Centro Educacional Carneiro Ribeiro, projeto do arquiteto e engenheiro Diógenes Rebouças, sob orientação do próprio Anísio; no verso, cena alegórica referente à proposta de ensino levada a efeito pela Escola Parque, cujo fundamento e método defendem a educação como processo constante de reorganização e reconstrução de experiências.

– CR$ 5.000,00. Na face possuía a efígie de um gaúcho, ladeada por painel que retrata, em visão simultânea, a fachada e o interior das ruínas da Igreja de São Miguel das Missões, RS, construída pelos jesuítas na primeira metade do século XVII; no verso, painel apresentando cena de um gaúcho manejando o laço, na captura do gado; e, ainda, sob as legendas da margem inferior, reproduções de acessórios típicos que o gaúcho usa em sua lida diária, tais como boleadeira, relho, guampa e esporas.

– CR$ 50.000,00. Na face possuía a efígie de uma baiana, com torço e colares, tendo à esquerda painel onde figuram alguns de seus mais importantes balagandãs, os quais possuem diversos significados, tais como romã e cacho de uvas (fecundidade), figa de madeira e dentes de animais (proteção), caju (abundância), peixe, cordeiro e pombas do Espírito Santo (elementos resultantes do sincretismo com o catolicismo), no verso, cena com uma baiana trajada com o requinte dos dias de grande festa, com o clássico tabuleiro, preparando o acarajé; e, ainda, ao fundo vê-se perspectiva da Igreja do Bonfim, em Salvador, cenário de uma das mais famosas festas do sincretismo religiosos brasileiro, qual seja, a Lavagem do Bonfim.

A transformação do sistema monetário vigente à época para o Cruzeiro Real foi apenas uma das medidas adotadas pelo Governo Federal para conter a hiperinflação, que já havia fechado o ano de 1993 no patamar de 2.447,15%. Isso fazia parte de um plano maior engedrado por uma equipe de economistas montada pelo Ministério da Fazenda, que, desde maio de 93, era comandado por Fernando Henrique Cardoso.
Também fazia parte desse plano um conjunto de medidas voltadas para a redução e maior eficiência dos gastos da União. Graças a essas providências iniciais a inflação daquele ano de 1994 recuou para “somente” 916,46%. Mas ainda estava muito alta.
Assim, outra das medidas foi a criação da URV (Unidade Real de Valor), a qual foi instituída em 1º de março de 1994 através da Medida Provisória nº 482, de 28 de abril de 1994, mais tarde transformada na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Sim, a legislação é posterior à criação da URV, mas já fixava em seu bojo que o valor inicial da mesma corresponderia a CR$647,50, retroagindo ao início de março daquele ano.
A URV funcionou principalmente como um indexador para o sistema monetário nacional, já que seu valor era diariamente fixado pelo Governo para aquela data, desta maneira corrigindo, estabilizando e unificando os preços praticados no mercado, já que que era obrigatória sua utilização para conversão dos valores. Mas a URV também acabou sendo meio que uma “moeda de transição” e sua vigência se deu até 30 de junho de 1994, quando então houve a implantação da medida final desse plano de estabilização da economia, que ficou mais conhecido como Plano Real.