Desde o começo desse absurdo bélico entre Rússia e Ucrânia muita bobagem tem sido dita – principalmente pelos próprios meios de comunicação. O amigo virtual Jarbas Novelino, lá do Boteco Escola, em sua conta do Facebook fez uma avaliação cirúrgica, lembrando que a cobertura midiática dessa guerra é de “uma pobreza jornalística que dá dó”, principalmente pelo simples fato de que não há correspondentes in loco. Os assim chamados “correspondentes internacionais” não estão nem na Rússia, nem na Ucrânia, mas sim confortavelmente instalados em seus estúdios em Londres, Nova Iorque, Genebra ou seja lá onde for, limitando-se a ser mera caixa de ressonância dos veículos noticiosos mais encorpados.
Independentemente disso, temos ainda a questão de que, por discordar da atitude da Rússia, muitos países impuseram embargos, sanções e boicotes contra o país. E o que significa isso? São ações que visam, principalmente, afetar a economia interna, impondo situações que possam afetar tanto a importação quanto a exportação de produtos, bem como retaliações em outras esferas àqueles que coadunam com essa guerra.
Agora vamos ao desatino da coisa – que é, justamente, a especialidade deste nosso cantinho virtual: diversos restaurantes brasileiros, em “boicote econômico” à Rússia, resolveram tirar do cardápio o estrogonofe. Sério. Gente, cada vez mais acho que o FEBEAPÁ está fadado a se tornar eterno neste nesse Brasilzão véio sem portêra, pois em meio aos horrores de uma guerra este nosso povo resolve tomar uma atitude que não afeta em nada o que está acontecendo lá fora! Provavelmente só pelo afã de demonstrar que estariam “antenados” com o resto do mundo…
Ora, façam-me o favor!
Enfim, toda essa introdução serviu para resgatar um post lá de 31/10/2014 publicado pelo Daniel Rodrigues no (quase) finado Deitando o Gato na Grelha, um blog pra lá de bem-humorado que, segundo ele próprio, é de “Receitas de churrasco como ele tem que ser. Sem frescura e sem rodeios. Porque homem que é homem esquenta a barriga na churrasqueira e esfria na geladeira de cerveja.” E garanto-lhes que as receitas dele são ótimas!
Divirtam-se!
 Strogonoff, uma pérola da culinária soviética
Strogonoff, uma pérola da culinária soviética
Sou um cara das antigas. No meu tempo, a Rússia era apenas uma província da URSS, que respondia pelo pomposo, vistoso e lustroso nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aliás, não respondia não, porque tinha uma tal guerra fria pegando, todo mundo com medo da bomba atômica, do MIG 29 (quem nunca assistiu Top Gun que atire o primeiro F-16), da estação MIR e da cadela Laika. E eles não respondiam nem pros Ianques, pra quem todo mundo respondia, então quem sou eu de falar que eles respondiam por alguma coisa…
Naquele tempo, os nossos camaradas, além de beber vodka, mandar foguete com cachorro pra lua e infernizar os americanos, se alimentavam alegremente com um delicioso prato que responde pelo nome de строганов.
Entendeu? O prato se chama строганов. строганов é uma coisa que se come. Não se fala, mas se come. A menos que você tenha feito parte da KGB num passado remoto (e se fez eu tenho medo de você), imagino que não consiga pronunciar o nome do prato. Cтроганов não é como feijão, arroz… Ou até mesmo Feijoada, que qualquer gringo sabe falar. Eles vão no boteco, falam “Feixoara” e o prato vem. Se eu ou você, ou nós dois juntos, formos à Rússia (prefiro chamar de União Soviética, mais charmoso) e pedirmos um строганов, ou ficamos com fome; ou levamos um cacete.
Imaginemos um tal de Sr. Dimitri Vladivostok (joguei muito War na adolescência). Camarada Dimitri estava a largar a URSS querida e lançar-se ao mar rumo ao Brasil, como tantos fizeram nos tempos pós-segunda-guerra. Munido de toda a vodka que conseguia carregar, o Camarada Dimitri aportou nesta terra onde se plantando tudo dá, e começou sua pacata vidinha numa igualmente pacata cidadela deste nosso Brasil varonil. Solícito com os amigos e vizinhos, o simpático Camarada sempre convidava a todos a saborearem sua deliciosa строганов, receita cuidadosamente passada de mamuska em mamuska pela sua família, há séculos. E ninguém comparecia.
Rápido como uma Perestroika, Dimitri logo percebeu que as pessoas não iriam querer saborear um alimento do qual não entendiam uma única letra do nome. Ok, todos sabemos que строганов começa com C, mas essas línguas são muito loucas e de repente o C tem som de Y, ou de 9. Então ele colocou o Wladimir e o Mikhail Tico e o Teco pra funcionarem e numa bela tarde ao som de Raul Seixas… ele, que já passou pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho, que ele lhe falou: STROGONOFF é a alcunha da sua oferenda, meu caro Dimitri.
Não seria nada incompreensível como строганов, não abandonaria as suas raízes bolcheviques, não lhe faria um traidor de Stalin, mas ao mesmo tempo era uma palavra que todo mundo conseguiria pronunciar. Pois foi assim que o nosso destemido filho da Mãe Rússia saiu pelas ruas da pacata cidadela do nosso Brasil varonil gritando aos quatro ventos “Venham comer o meu Strogonoff!!!”. E foi um sucesso. Alguns estavam curiosos com o alimento, outros com pensamentos impuros em relação ao nosso camarada, mas como este estava com os cornos cheios de vodka, o resultado final é que todo mundo saiu feliz.
Agora vamos parar com essa enrolação e mãos à obra preparar essa verdadeira delícia da culinária Moskovita.
Por falar em Moskovita (R$6,90 aqui no Super Vizinho, mercadinho perto de casa), abra logo uma dose de vodka e façamos um brinde ao som das trombetas. Cantando comigo:
С помощью транслитератор из букв латинского алфавита получаются буквы кириллицы, иврита, белорусского, греческого, или украинского алфавитов. Этот транслитератор задумывался как сервис для русскоязычных жителей стран , находящихся за границей и желающих переписываться на родном языке. Если кто-нибудь говорит “Я пользуюсь транслитом”, то всем понятно – речь идет. Еще его называют просто
«транслит» или желающих переписыват!!!
«транслит» или желающих переписыват!!!
«транслит» или желающих переписыват!!!
«транслит» или желающих переписыват!!!
Cantou? Então bebe logo essa vodka e comecemos a nos embriagar com mais uma receita com o padrão de falta de qualidade Gato na Grelha:
A primeira coisa que você vai precisar é de um bom pedaço de carne e uma faca afiada. Mas que carne? Você pode preparar um strogonoff maneiro com vários tipos de carne (patinho, acém, alcatra…). Fuja das carnes muito gordurosas, que vão fazer do seu strogonoff um poço de banha, e fuja daquelas carnes que têm muita fibra, como o contra-filé. Na verdade, quem vai definir que tipo de carne você vai usar é o seu bolso. Patinho é barato, alcatra já nem tanto mas também não é uma fortuna, enfim. E como estamos falando do SEU bolso e não do meu, vou logo chutar o balde e te deixar cheio de carnê do açougue pra pagar: hoje vamos de filé-mignom, parceiro.
Sou muito fã desse corte. Eu e a torcida do curintia, do framengo e do parmera, né? É uma carne muito macia, muito saborosa, e que mantém o sabor e maciez mesmo sob condições extremas. E vamos colocar nossa carne sob condições marromeno extremas. Então é bom ela aguentar o tranco.
Nada disso de chegar no açougue e pedir aquele picadinho pronto pra strogonoff. Ali eles cortam do jeito que querem, pedações grandes, e você nunca vai saber se tem um filé de gato ali no meio. Então larga mão de preguiça e bora lá picotar nosso filé mignom. Pra nossa receita, uma peça de meio quilo já é o suficiente. Principalmente porque o FM (dá muito trabalho ficar digitando o tempo todo, então vamos chamá-lo de FM) é uma peça muito limpa, praticamente sem nervos ou gorduras, então você vai aproveitar praticamente 100% desse meio quilo.
Aí, merrmão.. o processo é o seguinte: afia a tua faca, concentra no que tá fazendo e picota a carninha até obter meio quilo de pequenos pedaços do tamanho de meio polenguinho. Teve infância, compana? Então você sabe do que eu tou falando. Picota mesmo, sem técnica, sem critério. Se você já esquartejou uma pessoa, saberá como fazê-lo. Se não esquartejou uma pessoa, também saberá. Foca na miopia e polengo na mente que você consegue.
Agora é hora de temperar o FM picado. Você ainda tem uma trabalheira pela frente, e aí a tua carne vai pegando gostinho do tempero, o que fatalmente vai se transformar em mais amor no teu prato.
ATENÇÃO: isso foi uma PIADA. JAMAIS coloque sazon num filé-mignon!!! Nem fora dele. Não gosto desses temperos de gultomato monossódico, não. Enfim, gosto pessoal. Se você quiser colocar sazon, coloca. Mas não me conta que a gente perde a amizade.
Você pode temperar o seu FM como quiser. Pelas experiências que eu já tive, recomendo apenas um pouquinho de uma pimenta tipo tabasco, pimenta do reino e sal.
Não recomendo usar temperos liquidos em abundância, porque você vai ter que fritar essa carne depois. Muito liquido pode miar a sua fritura e você acabar cozinhando a carne. Também não recomendo temperos com folhas. Uma vez eu usei orégano. O sabor até ficou legal, mas o orégano soltou da carne, obviamente, e ficou boiando pelo strogonoff, dando um aspecto meio esquisito. Nem pimentas em fruta, pelo mesmo motivo. Uma biquinha, por exemplo, vai ficar boiando no molho depois… Estranho. Vai de sal, pimenta do reino e tabasco que é sucesso.
Agora vai mexendo até o chão na boquinha da garrafa tudo aí e deixa o FM quietinho. Vamos à próxima.
Aproveita que a faca tá afiada, que você ainda tá sóbrio (eu acho) e que a animação tá te contagiando e tome mais uma dose de vodka picote uma cebola. Picota pequeno, compadre. Lembra sempre com essa sua cabeça de vento que você está fazendo um strogonoff de FILÉ MIGNON, e não um strogonoff de cebola. Pega duas panelas, e divide essa cebola picada em duas partes. Uma pra cada panela.
Aí o mais fino, elegante e sincero leitor desse blog me pergunta: “Mas por que duas panelas, meu caro escriba?”
E eu respondo: “Научиться пользоваться еще проще с помощью, наглядной!”, o que significa: “Para fazermos um belo e saboroso arroz branco, camarada!”. Mas aí surge um problema daqueles capazes de ruborizar o mais sem-vergonha dos leitores: Sim, eu sei fazer arroz. Sim, eu sei cozinhar coisas saborosas, elaboradas e elas costumam ficar deliciosas…. Menos o meu arroz. Meu arroz é péssimo. Em todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca consegui fazer um arroz que não ficasse uma papa. Daqueles que você puxa um grão e vem a panela toda, sabe? Então. Por este motivo não tem nenhuma receita de arroz aqui no blog (tem algumas, mas tem migué. Lê que você vai entender). E por isso eu sempre pulo a confecção deste alimento nas minhas receitas. Assim como o farei novamente. Agora. Faça o arroz como quiser, ok?
Por favor, aceito dicas inbox.
Voltemos à panela do strogonoff, que é a única que nos interessa hoje. Aproveitando essa picotagem toda, picota bem pequeno E CUIDADO COM ESSE DEDO AÍ um dentinho de alho, daqueles que não são nem minúsculos, nem imensos. Nem o dente de leite do seu filho, nem o sabre do mamute. Você entendeu.
Vodka. Tome vodka. Se for balalaika, tome um pouco menos.
Tomate, chegou tua hora. Pode te preparar pra sofrer a mais desumana das torturas. Embora o tomate não seja humano. Mas ele é um vegetal que na verdade é uma fruta, e como tem muito humano que também é fruta, considero sim o tomate um humano e bora pra tortura.
Sabe tirar a pele do tomate? Não, você não vai descascá-lo como a uma laranja. Isso aí não tem a menor graça e a gente tá aqui pra ver tomate sofrer. Então pega uma panela, enche de água e bota pra ferver. Quando estiver a pino, jogue, sarcasticamente, o tomate lá dentro. Delicie-se com os seus gritos e súplicas de dor. Mas fica de olho, esses tomates são muito espertinhos e derretem rápido. E ainda vamos judiar um pouco mais. Tá de olho? A pele do tomate já fez algum rasgo? Isso mesmo, a pele do nosso prisioneiro vai abrir em algum ponto. Quando isso acontecer, tira ele da água quente. Agora olha que cruel: deita ele na sua tábua e vai arrancando cuidadosamente a pele, enquanto ele te conta toda a verdade. A pele se solta rapidinho e neste momento você terá um tomate sem pele. E sem vida.
Então pára de maldade, picota o tomatinho e guarda em cima da tábua mesmo.
Recapitulando:
1 – Picotamos uma linda peça de FM e temperamos. Ela tá em algum lugar da sua cozinha esperando por você. Pode ser em qualquer lugar, menos dentro da panela, ok?
2 – Picotamos meia cebola, esta sim está dentro da panela.
3 – Deixamos um alho banguela e o resultado está picotado dentro da panela.
4 – Temos um tomate sem pele, sem vida e sem dignidade picotado em cima da tábua.
Perfeito. Agora a coisa vai começar a cheirar bem…
Regue a cebola e o alho com azeite até cobrir o fundo da panela (tou acreditando que você pegou uma panela compatível com meio quilo de carne, certo?) e acenda, finalmente, o fogo debaixo dela.
O refogado é um dos momentos mais sublimes da culinária. Por isso, enquanto a cebola chia dentro da sua panela, tome mais uma vodkinha. Não sei você, mas eu já estou começando a ficar meio bebum. Bola pra frente.
Quando a cebolinha começar a ficar amarelinha, parecendo meio transparente, é a hora do FM entrar no jogo. Taca lá pra dentro todo o FM que você picotou. Dá uma mexidinha pra ele fritar legal.. Com o tempo, a carne vai começar a soltar um líquido e fazer daquilo um caldo com um cheiro delicioso. Pra saber se a carne tá no ponto… Tira uma e come, ué. A carne não pode estar mal-passada de jeito nenhum, porque a partir de agora, não vai mais ter fritura. Quando estiver no ponto, joga lá dentro o tomate. Dá uma mexidinha e deixa. O tomate tende a se dissolver, ou a ficar bem molinho.
Ah, esqueci de um cara importante: o Champignon. Sabe aqueles vidrinhos pequenos que vende no mercado, com campignon já picado? Então, taca um dele pra dentro. Se não estiver picado, pique. É importante ele ser pequeno. Só toma cuidado e não deixa aquela água da conserva cair dentro da sua carne. Ela é salgada e cheia de conservantes, vai estragar a receita. Cuidadaê!
Agora um toque que eu, particularmente, gosto muito: vai na geladeira, pega aquele catchup que você tem lá e manda uma golada de responsa pra dentro. É mais ou menos a quantidade de catchup que você colocaria num X-Salada inteiro. Você vai saber o quanto.
Se você tem um catchup de qualidade na sua geladeira, tanto melhor. Se não tem, dá uma busca aqui no blog que tem uma receita maneiríssima de catchup da melhor qualidade.
Mexe. Tá ficando com um molho vermelhinho? É disso que eu tou falando, meu compana. Se você achar que o teu molho não tá lá muito vermelho, tá meio esquisito, pode jogar um pouco de molho de tomate pra ajudar. Imagina que você vai jogar uma lata inteira de um treco branco lá dentro, e o resultado final do strogonoff é uma cor meio laranja. Então bota essa palheta de cores pra funcionar e corrige o quanto julgar no molho.
Se você for daltônico, pensa que teu molho tem que estar com um azul bem maneiro, e o resultado final do strogonoff é um negócio meio amarelo-limão. Aí você pega aquele molho de tomate bem lilás que tem na sua geladeira e boa sorte aí pra ir corrigindo as cores. Enfim.
Mas que treco é esse que vamos colocar? É Creme de Leite, meu caro amigo… Aquele que sai do peitinho da vaca, que passou por um processo show de bola que eu não sei qual é, mas no final o que era pra ser comida de bezerro vira um treco bem cremosinho…
Só que você não pode simplesmente sair jogando creme de leite pelo mundo assim. Tem que tomar alguns cuidados antes. O creme de leite pode talhar com a temperatura, o fogo aceso, etc… Então desliga o fogo, joga o creme de leite lá dentro, mexe e pronto.
Tá feito o seu Strogonoff!

Emenda à Inicial: Acerca da “verdadeira origem” do prato, existem várias versões. A mais aceita é que teria origem por volta do ano de 1700 no seio (e vê se para de pensar bobagem aí!) da família Stroganov, uma rica família russa e de linhagem nobre. Os franceses teimam em afirmar que o prato não é russo, pois seria uma adaptação local de um prato deles – o que até faz sentido, afinal as famílias nobres russas costumavam ter um chef francês para servi-los.
Pois bem. Reza a lenda que o Conde Grigory Alexandrovich Stroganov – ou simplesmente ригорий Александрович Строганов – estava com problemas dentários e para que pudesse comer o chef do palácio adaptou o fricassé de carne (fricassé de boeuf), cortando em pequenas tiras e misturando a carne com um creme de leite tradicional russo. Tudo para facilitar a ingestão da comida. O acompanhamento era um caldo de legumes. Como foi feito para o Conde, o prato foi batizado com o nome da família.
Num livro de 1861 publicado por Elena Molokhoivets foi incluída uma receita de bife stroganoff com mostarda. Entretanto a receita original russa foi levada para a França pelo filho do Conde, Alexander, tendo sido publicada pelo chef Charles Brière por volta de 1891. O prato foi evoluindo e em 1912 Pelagia Alexandrova-Ignatieva acrescentou nova textura à receita, tendo incluído cogumelos, cebolas e molho de tomate, além de servir com batata cozida.
A Revolução Russa, de 1917, indiretamente exportou o prato para o exterior. E, na China, para onde alguns emigrantes nobres russos fugiram, o prato passou a ser servido com arroz – e foi essa “versão asiática” que foi adotada pelos americanos.
(Informações roubartilhadas daqui.)


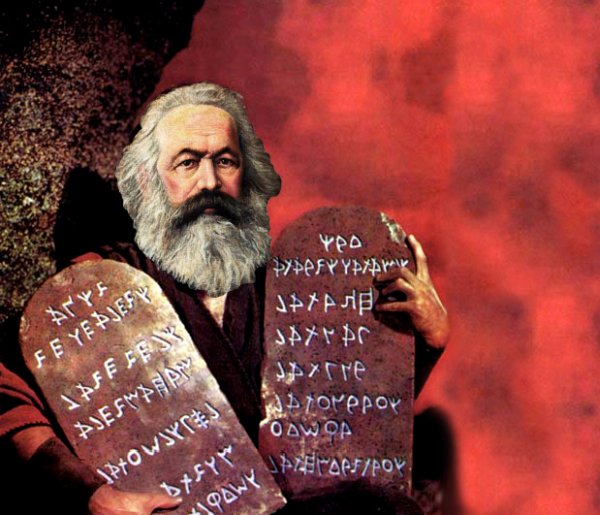



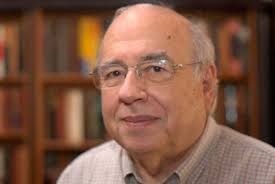
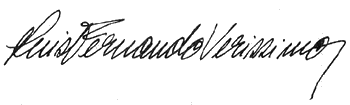
 O jornalista, editor e escritor Ambrose Bierce compilou ao longo de 25 anos os verbetes e poemas que formariam o “Dicionário do Diabo”, um dos livros mais hilariantes de todos os tempos. Os primeiros verbetes apareceram em 1881, publicados esparsamente em diferentes jornais. Bierce não aprovava dicionários, definindo-os como um “maligno instrumento literário para limitar o crescimento de um idioma e torná-lo duro e inelástico”. Justamente por isso atribuiu esses escritos ao próprio Diabo, que estaria zombando das pretensões e hipocrisias humanas. Cinismo é a melhor palavra para definir verbetes como “crítico: pessoa que se vangloria de ser difícil de agradar porque ninguém tenta agradá-lo” ou “lixo: material sem valor, como religiões, filosofias, literaturas, artes e ciências das tribos que infestam as regiões ao sul do Polo Norte”. Ambrose Pierce teve um fim misterioso, desaparecendo em 1914 enquanto cobria as ações dos rebeldes liderados por Pancho Vila durante a Guerra Civil Mexicana. Mas, como ensinou Baudelaire, “o truque mais esperto do Diabo é convencer-nos de que ele não existe”. Alguém sempre assume a pena. Neste espírito endiabrado, preparei um breve compilado de palavras da moda que, provavelmente, Ambrose Bierce incluiria em seu possesso dicionário.
O jornalista, editor e escritor Ambrose Bierce compilou ao longo de 25 anos os verbetes e poemas que formariam o “Dicionário do Diabo”, um dos livros mais hilariantes de todos os tempos. Os primeiros verbetes apareceram em 1881, publicados esparsamente em diferentes jornais. Bierce não aprovava dicionários, definindo-os como um “maligno instrumento literário para limitar o crescimento de um idioma e torná-lo duro e inelástico”. Justamente por isso atribuiu esses escritos ao próprio Diabo, que estaria zombando das pretensões e hipocrisias humanas. Cinismo é a melhor palavra para definir verbetes como “crítico: pessoa que se vangloria de ser difícil de agradar porque ninguém tenta agradá-lo” ou “lixo: material sem valor, como religiões, filosofias, literaturas, artes e ciências das tribos que infestam as regiões ao sul do Polo Norte”. Ambrose Pierce teve um fim misterioso, desaparecendo em 1914 enquanto cobria as ações dos rebeldes liderados por Pancho Vila durante a Guerra Civil Mexicana. Mas, como ensinou Baudelaire, “o truque mais esperto do Diabo é convencer-nos de que ele não existe”. Alguém sempre assume a pena. Neste espírito endiabrado, preparei um breve compilado de palavras da moda que, provavelmente, Ambrose Bierce incluiria em seu possesso dicionário.