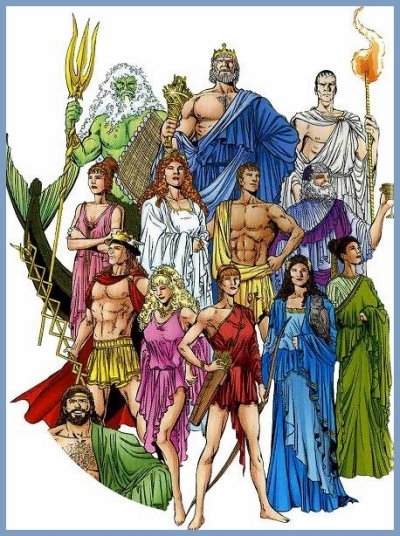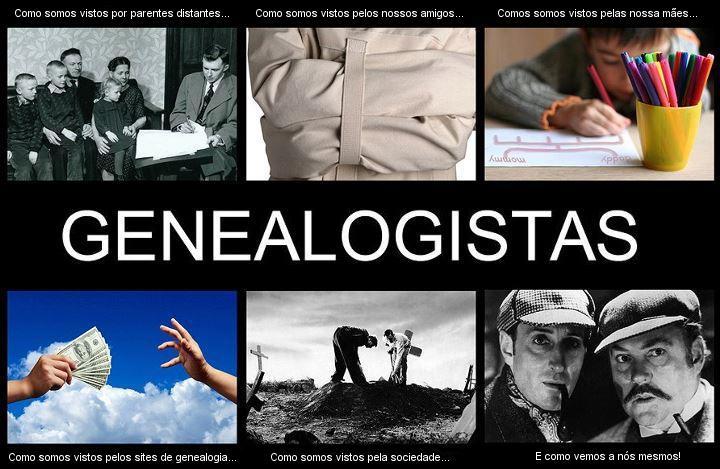E eis que ontem à noitinha, após longo e combativo dia de trabalho, emputecido com inglória notícia que me atormentava – e ainda sob chuva – estava eu a dirigir pra casa. E, lógico, ouvindo minhas músicas como sempre.
Para aqueles que talvez ainda não saibam, aquela frase que compartilhei por aqui outro dia, “Prefiro a música – pois ela ouve meu silêncio e ainda o traduz, sem que eu precise me explicar…”, tem exatamente TUDO a ver com este humilde escriba que vos tecla. Não sei, não consigo, dirigir sem estar ouvindo alguma música. De preferência as que escolhi. É uma ótima maneira de manter as porteiras da mente recostadas, não deixando os pensamentos debandarem em louca disparada…
Enfim, voltando ao assunto, eis que no meio do caminho me pifa o pendrive!
(Sim, a melhor maneira que encontrei para curtir minhas músicas foi através de um pendrive. Tá, nem tão pendrive assim. Na verdade um adaptador para cartão de memória micro SD de 4 GB com conexão USB (quem não entendeu levanta a mão!)… Melhor que andar com bolsas de CDs que fatalmente vão ser destruídos no dia a dia com o carro pra cima e pra baixo. Com umas cinco centenas de músicas armazenadas era o suficiente para me distrair.)
Cutuca, descutuca, tira, põe, remove o cartão, insere o cartão, coloca de novo – e nada!
Bem, paciência. Coisas de informática têm dessas coisas…
Mas como nunca falha, Murphy, aquele velho sacana (que, pra mim, deve ter a cara do House), resolveu me acompanhar hoje pela manhã. Na correria – e, de novo, sob chuva – acabei esquecendo de fuçar por algum outro pendrive em casa. Sequer lembrei dos CDs. Entrei no carro, saí da garagem, fui dirigindo e quando, já no “piloto automático”, levei a mão para ligar o som… Caiu a ficha! SEM SOM! E tudo que pude ouvir foi a surda gargalhada do Murphy, contorcendo-se de tanto rir no banco de trás!
Engoli em seco.
Pois Murphy sabia.
Tudo que me restava era o rádio.
E se existe um “dom” (ou seria maldição?) que efetivamente tenho é de nunca – eu disse NUNCA – conseguir sintonizar uma estação que esteja tocando alguma música. Nunca.
“Bem”, pensei comigo, “esse tipo de coisa não deve durar pra sempre, deve?” Resolvi arriscar. Liguei o rádio. Uma espécie de entrevista com um representante de algum insípido produto revolucionário estava no ar. Mudei de estação somente para encontrar aspirantes a humoristas de quinta categoria tentando fazer graça. Mudei de novo. Alguns dos milhões de técnicos de futebol que este nosso país comporta (suporta?) estavam tecendo seus comentários sobre os jogos de ontem – que, diga-se de passagem, ignoro totalmente, pois sou ateu em termos futebolísticos. Mudei. Um pastor dizia o quanto devemos tomar cuidado, pois o diabo estaria constantemente presente em nossas vidas (alguém já reparou como esse pessoal consegue falar mais do diabo do que de Deus?). Mudei. “Eu quero tchu, eu quero tcha…” Quase bati o carro na pressa de mudar novamente de estação. Um caboclo de voz arrastada e chorosa tecia loas ao poder divino da igreja xpto, pois nela teve seu câncer curado. Mudei. Uma mocinha dava seu depoimento sobre a volta do grande amor de sua vida depois de ele ter ficado com todas as amigas gostosas dela. Mudei. De volta ao produto revolucionário.
MEU DEUS!!!
Tudo isso em, talvez, apenas um quilômetro de estrada.
Sem alternativa, desliguei o rádio.
Garoa fina e trânsito moroso: ótima combinação para os pensamentos começarem a se escoicear dentro do curral…
Vários minutos depois e após mais alguns quilômetros de tormentoso silêncio, resolvi tentar dar uma passeada pelas estações novamente.
Inútil.
Totalmente inútil.
E-XA-TA-MEN-TE as mesmas pessoas falando as mesmas coisas nas mesmas estações!
Assim, no tortuoso caminho para o trabalho, o único trecho de música riscado no disco da minha memória teimava em ficar repetindo “I got thirteen channels of shit on the TV to choose from”…
Ou seja, há muito tempo Waters já sabia sobre meu l’état d’esprit de hoje!