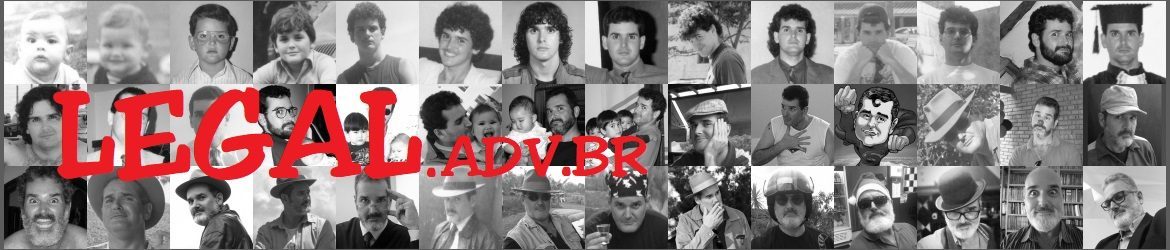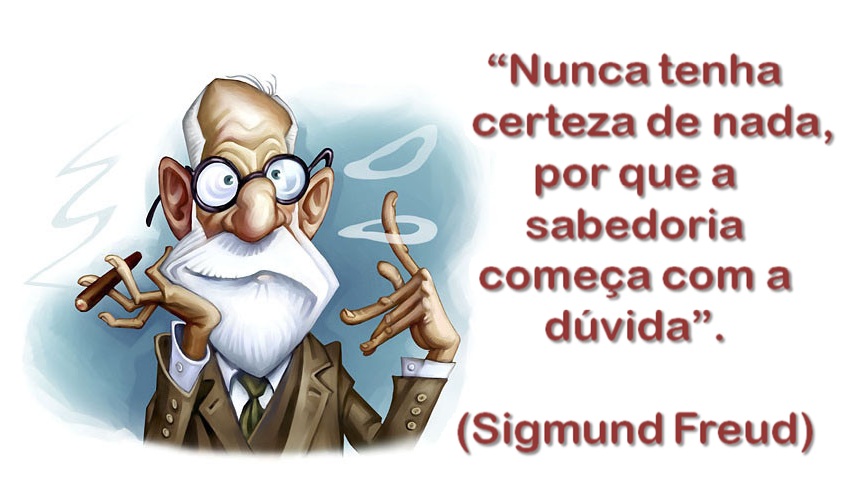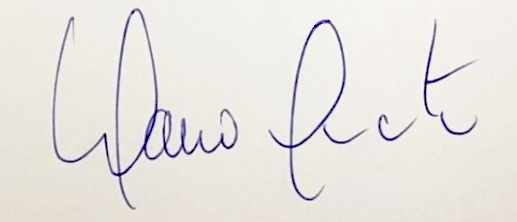Egon Bockmann Moreira
Professor Titular da Faculdade de Direito da UFPR.
Advogado.
Ética e confiança na comunicação jurídica em tempos de excesso informacional
Na advocacia, a palavra nunca foi neutra. É instrumento de defesa, meio de convencimento e forma de estabelecer confiança. Também foi, durante muito tempo, uma barreira de entrada. O vocabulário técnico e os códigos fechados limitavam os interlocutores, preservando um espaço quase exclusivo entre advogados, advogadas, juízes e autoridades. A palavra do direito, escrita em linguagem cifrada, era um filtro que separava iniciados e leigos, consolidando uma comunicação de alcance restrito.
Esse cenário mudou radicalmente. A mesma palavra que antes circulava em corredores limitados hoje percorre redes complexas, multiplica destinatários e atravessa fronteiras. Já não é um gesto individual, controlado e endereçado a poucos, mas uma prática individual que se converte em coletiva, difusa e permanentemente exposta. Os diálogos jurídicos se tornaram atos públicos, reforçando que reputação, clareza e ética são inseparáveis do exercício profissional.
A comunicação com clientes ilustra bem essa transformação. No passado, as reuniões presenciais eram o espaço central: o cliente comparecia ao escritório, narrava os fatos e nós tomávamos notas à caneta (e as guardávamos com sigilo). Desse encontro é que se extraía a matéria-prima para petições ou pareceres.
A relação era bastante assimétrica: cabia ao cliente confiar e acreditar nas poucas informações que lhe eram repassadas. Aos advogados, traduzir em linguagem jurídica aquilo que recebera em narrativa pessoal. Pouquíssimas vezes a petição era submetida à análise prévia do cliente. O produto final seguia um caminho linear, da mesa do escritório à da magistratura, com escassos interlocutores no trajeto.
Nos dias atuais, o cliente chega munido de informações buscadas no Google, de modelos extraídos de sites especializados e, cada vez mais, de respostas de sistemas de inteligência artificial. Comparece em ambientes virtuais com pautas previamente construídas, nem sempre consistentes, e o diálogo já não é apenas sobre fatos, mas a respeito de comparações de argumentos. A função advocatícia deixou de ser a de compreender e informar: nossa missão é a de contextualizar, selecionar e organizar esse excesso, transformando ruído em orientação técnica responsável.
A nova configuração do papel atribuído às advogadas e aos advogados exige atenção aos limites éticos. A palavra jurídica já não é só nossa e o número de interlocutores é incalculável. Mesmo porque o e-mail e o whatsapp, que substituíram em grande parte as conversas presenciais, podem ser imediatamente compartilhados com amigos, sócias, conselhos de administração ou departamentos jurídicos.
Essa imensa sucessão de monólogos, de texto ou de voz, torna imprecisas as fronteiras reais e os efeitos da comunicação profissional. Reuniões virtuais são automaticamente transformadas em texto, tornando definitivas as opiniões momentâneas. A informação não é mais apenas mnemônica. Cada mensagem é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, instrumento de orientação e demonstração de força ou responsabilidade. A confiança do cliente nasce da percepção de que, mesmo diante de informações abundantes, são os advogados e advogadas quem mantêm o fio da coerência, oferecendo direção segura em meio ao excesso.
Entre colegas, a comunicação também mudou. Havia um tempo em que ela se fazia em encontros pessoais: uma ligação telefônica, uma carta formal, um cafezinho ou uma conversa de corredor no fórum. O tom era controlado, e o alcance limitado. Divergências permaneciam confinadas aos autos do processo.
Hoje, a troca de mensagens ocorre em velocidade instantânea, registrada em e-mails, aplicativos e plataformas digitais. Aquilo que antes era uma conversa informal pode, de repente, tornar-se prova documental. Além disso, as redes sociais transformaram colegas em interlocutores públicos: discussões antes restritas às peças processuais repercutem em postagens e entrevistas que alcançam públicos heterogêneos.
Nesse ambiente, o limite ético é o que preserva a confiança entre pares: cada palavra carrega a reputação de quem a profere. O advogado que respeita esses limites não só defende causas, mas protege a credibilidade da profissão como um todo.
O mesmo se diga da comunicação com autoridades, que sempre foi ato de responsabilidade institucional. Antes, era formal, solene e marcada pelo rito: a petição impressa, a audiência diante do juiz, juíza ou procuradores, a sustentação oral restrita ao espaço físico do tribunal. Cada palavra tinha destinatário exclusivo e contexto delimitado.
Atualmente, o mesmo gesto ocorre em ambiente digital, acessível a qualquer pessoa. A petição eletrônica, redigida para convencer um magistrado específico, pode ser lida por colegas, jornalistas, pesquisadores ou cidadãos interessados. A sustentação oral é transmitida em tempo real e arquivada em vídeo, aberta ao escrutínio público. Os clientes as assistem, como se estivessem diante de uma competição esportiva. A fronteira entre comunicação técnica e exposição pública tornou-se difusa, muitas vezes confundindo o real papel atribuído ao advogado e às advogadas.
Nessas circunstâncias, ética e sobriedade são imperativos. Nós precisamos manter a precisão do discurso, conscientes de que cada palavra poderá ser editada e lida fora do contexto original; sustentar posições firmes, sem deslizar para espetáculos retóricos; e cultivar a confiança de que, mesmo em ambiente hiperexposto, a comunicação serve antes à Justiça do que à autopromoção.
Os meus quase 40 anos de advocacia revelam que ela sempre foi comunicação, mas nunca como agora. O que antes se organizava em trajetórias lineares – advogado e cliente, advogado e colega, advogado e autoridade – hoje se desenrola em redes abertas, instantâneas e duradouras. Cada mensagem deixa de ser restrita e passa a circular em cadeias comunicativas cuja gestão ultrapassa o controle do emissor. Somos todos comunicadores, ativos e passivos.
Os advogados não são mais apenas aqueles tradutores de códigos técnicos, mas sim gestores de sentidos: cabe-lhes selecionar o que importa diante do excesso de informações, contextualizar dados fragmentados e manter a sobriedade mesmo em arenas de exposição pública. A palavra jurídica continua sendo instrumento de defesa e convencimento, mas também se tornou construção de reputação, prática ética e exercício permanente de responsabilidade.
Na sala de reuniões de ontem, o advogado se sentava diante do cliente com a biblioteca às suas costas, simbolizando o acesso exclusivo ao conhecimento. Hoje, a biblioteca é digital e está ao alcance de todos, com respostas certas e erradas à disposição. A inteligência artificial faz resumo de livros e petições, tornando legível o outrora inacessível. Mas, mesmo nesse ambiente com fronteiras comunicativas difusas, continua a ser o advogado e a advogada quem organiza, depura e dá direção à comunicação.
O que mudou não foi a essência da função, mas o espaço em que ela se realiza: de corredores fechados para redes abertas, de destinatários limitados para ambientes virtuais. O vínculo de confiança permanece – e é nele que repousa a legitimidade da nossa palavra, neste tempo em que todos comunicam, mas poucos orientam.