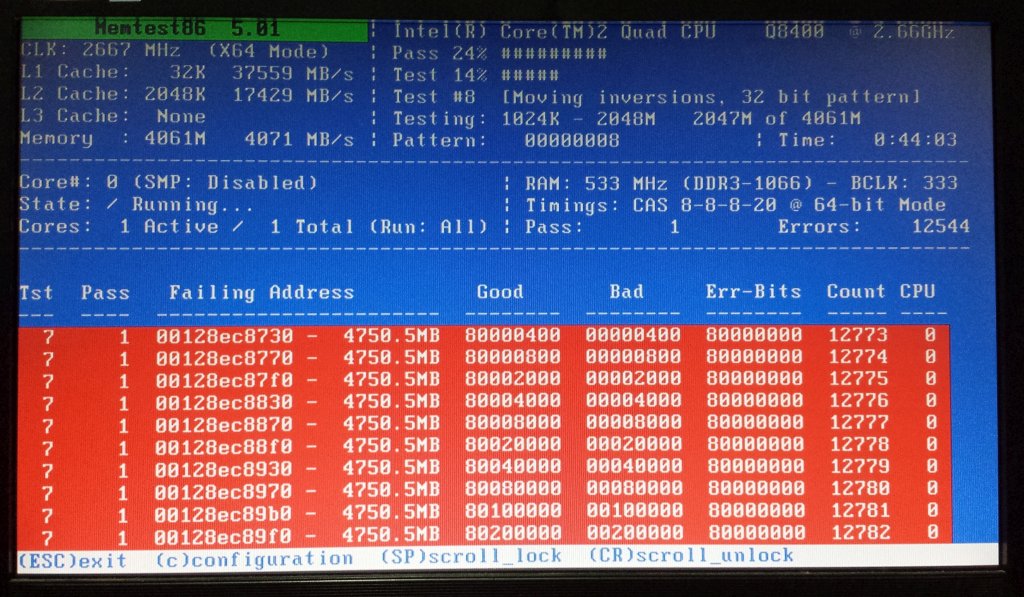Outro dia, na Carta Capital, li um texto bastante interessante: Quando as crianças saírem de férias (Mãe nenhuma se preocupava com a chegada das férias dos filhos), de autoria de Alberto Villas, e pensei comigo mesmo: “Comigo mesmo, taí um texto muito bom! Disse tudo!” Mas… Ato contínuo, repliquei: “Cara, será mesmo? Pelo jeito a realidade dele era um pouco diferente da nossa… Será que não dá pra dar uma corzinha mais pessoal nessa história?” Ao que emendei: “É… Pensando bem, até que é…” E fui obrigado a concordar: eu tinha razão.
É que nos dias de hoje, quando se fala nas “férias-do-meio-do-ano” (como era chamada na minha época), as mães já começam a se desestabilizar física, química e espiritualmente num nível subatômico – principalmente as que trabalham! Muitas vezes o descabelamento – tanto capilar quanto emocional – já começa muito antes, quando os pais traçam planos mirabolantes para dar conta de quatro – QUATRO! – míseras semanas com sua prole em casa. E sim, digo “pais” porque, diferente do passado, nos dias de hoje as responsabilidades são muito mais bem divididas e as decisões são tomadas em conjunto de modo a encontrar a melhor saída para a família como um todo. E como todo planejamento sempre dá com os burros n’água e como todo pai tem um quê de Pôncio Pilatos, invariavelmente sobra para a mãe resolver essa equação aparentemente insolúvel de preencher o vazio que entope o tempo dessa criançada moderna quando está de férias…
A mídia como um todo explora esse “filão” (como se não houvesse nada mais relevante pra midiar) e passa dias e mais dias apresentando entrevistas, reportagens, cadernos especiais, com tudo do bom e do melhor (segundo eles) para manter ocupado nossos pequenos petizes.
É um tal de Hopi-Hari num dia, McDonalds noutro, cinema no seguinte, casa dos avós, casa dos amigos, campeonato on line, shopping… Gente, para! Pega toda essa grana gasta com supérfluos e logística e vão todos viajar que vocês ganham muito mais!
Não me lembro jamais, durante toda minha infância, de que alguma preocupação tenha passado pela cabeça da minha mãe sobre o que ela faria comigo e meus dois irmãos no período de férias. Viajar? Ela, costureira; meu pai, mecânico, ou seja: somente quando ELE estivesse de férias (e calhasse de nós também) é que pintava uma ou outra viagem. Caso contrário as férias eram nossas, mas eles continuavam na lida como sempre.
Resumo da ópera: nossas férias eram por nossa própria conta.
A ordem cronológica em casa era a seguinte: meu irmão mais velho, seguido, cerca de um ano e meio depois, por meu irmão do meio e na sequência eu, seis anos depois… Primogênito, do meio e pentelho. Eles tinham muito mais afinidade entre si do que comigo, então o jeito era me virar.
E como me virava!
Invariavelmente, sozinho ou com outros amigos, o quintal da casa era nosso reino. Às vezes o de casa, às vezes os de outras casas. Acordar cedo, buscar pão quentinho na padaria da esquina, comer todo o miolo de ao menos um pão antes de chegar em casa, tomar café com leite e pão com manteiga, sair correndo antes que seu irmão do meio desse o habitual esporro por conta do pão sem miolo que tinha ficado pra trás, e já ir tramando qual seria a “aventura” do dia, cavando, correndo, jogando, lutando (com os chamados “hominhos”) quando as figuras do Forte Apache – tanto o General Custer quanto os índios – combatiam contra os soldadinhos verdes de plástico, invariavelmente auxiliados por cavaleiros da Idade Média, e por aí afora até onde nossa imaginação permitisse…
Os finais de semana das “férias-do-meio-do-ano” (já não expliquei o porquê do nome?) também eram mais divertidos, pois costumávamos acompanhar meu pai e outros amigos da turma da oficina para as pescarias na represa. Acordávamos com o barulho da picadeira lá no curral, no alto do morro, e já subíamos a porra do interminável morro pelo meio do mato com nossas canequinhas esmaltadas para aproveitar um leite quentinho, direto da fonte. Cobras? Aranhas? Outros bichos peçonhentos ou não que estivessem de tocaia no meio desse mato? Deus sempre protegeu as crianças, os bêbados, os loucos e eu (que sou uma mistura de todos anteriores).
Debulhar milho para alimentar as galinhas e os porcos, correr atrás dos quatrocentos gatos que zanzavam por ali vindos sabe-se lá de onde, rolar morro abaixo com os cachorros do sítio (cães de caça, segundo o dono), comer todo o queijo prato destinado a pegar piabas no anzol, correr para o meio do milharal para fugir da bronca por ter comido o queijo prato (nem tava tão gostoso assim…), brincar de esconde-esconde no milharal, voltar todo cortado por conta das porcarias de folhas cortantes do milharal, inventar vários tipos de brinquedos munidos de um toco, dois carretéis de linha, um rolo de barbante e uma lata de sardinha (dá-lhe McGyver!), bem esse era mais ou menos nosso dia-a-dia na roça…
De volta à cidade (e ao quintal) vale lembrar que estamos falando de uma época do ano que normalmente faz frio, certo? Errado. Criança não tem controle de temperatura. Ficávamos descalços praticamente as férias inteiras (os sapatos Vulcabrás eram só para comparecer nas missas de domingo), normalmente sem camisa ou de camisa aberta, encardidos a maior parte do tempo, com leves nuances de higiene somente à hora do almoço, quando minha mãe chegava na porta da cozinha e gritava: “Vem comer, que tá na mesa!”, que se constituía basicamente de feijão, arroz, angu (ANGU, não “polenta” – um dia explico), às vezes um bife, outras batata frita, coisas do gênero – ou seja, uma refeição simples, frugal e deliciosa para os esfomeados que não paravam um minuto sequer.
Aliás, domingo era dia diferente! Missa das crianças pela manhã, pipoca na praça em seguida, Domingo no Parque ao chegar em casa, macarrão e frango ensopado no almoço. Frango assado somente em dias de festa ou quando tínhamos visita. E um detalhe: o frango era comprado vivo, na feira, para ser totalmente preparado em casa. Também num outro dia eu conto os detalhes…
Os limites do quintal eram extrapolados somente para comparecer nos campinhos perto de casa (a praça do coqueiro, bem em frente, as saudosas “Três Quadras”, quase do lado e o campinho das Três Árvores, morro abaixo). As atividades extracurriculares envolviam participar de guerras de mamona, soltar pião, jogar vôlei (já não disse que futebol nunca foi minha praia?), soltar pipa (feito em casa – nada de comprar pronto), provocar as meninas, correr das meninas (CRI-AN-ÇAS… Lembram?), e – desafio dos desafios – enfrentar a descida da Rua do Cemitério numa corrida de carrinhos de rolimã. Também construído em casa. Skate, patins e outras modernidades fazem parte da década de oitenta, que viria bem depois.
“Mãe, vô sair.”
“Vai pra onde, filho?” – perguntava, absorta nas costuras.
“Lá fora.”
“Tá, não demora.”
Quando muito, voltava à noitinha…
Invariavelmente encardido e com algum joelho ralado, cotovelo esfolado, sem o tampão do dedão do pé, ou com alguma unha roxa. Água, sabão e Merthiolate. Não esses de hoje, que mais parecem uma água. Os daquela época tinham que ser ministrados à força, quando minha mãe alicatava meu braço e sob um veemente “NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,NÃO,VAIARDER!!!!” ainda assim ela passava o remédio.
Mas depois tinha o soprinho…
E em dias de chuva, então? Onde uma criança se esconde? Na chuva, é lógico! E naqueles de chuva forte, o esporte radical favorito de dez entre dez moleques era nadar de barrigada na corredeira do meio-fio!
À noite nada de Internet, Netflix, TV a cabo, o escambau! Se quiséssemos assistir algo era o que tinha na TV aberta e pronto. Por isso mesmo a estratégia era nos afastarmos da sala, onde reinava a portentosa TV Telefunken de seletor e com UHF (que meu pai recuperou das machadadas de meu padrinho – mas essa é outra história), e nos embolávamos no quarto, para fazer pistas em nossas cobertas para os carrinhos Matchbox ou ler algum livro ou gibi antes de dormir. Nos finais de semana havia uma sessão de sábado cujo nome não consigo lembrar e era onde passavam bons e inéditos filmes (precursor bem antigo do tal do Tela Quente) e, lógico, no domingo a janta era obrigatoriamente na sala, assistindo o humor totalmente politicamente incorreto de Os Trapalhões. Creio que já comentei por aqui antes que, se fosse nos dias de hoje, um programa desses jamais emplacaria ante a sanha dos “defensores da moral e dos bons costumes”: um mulherengo conquistador, um efeminado engraçadinho, um negro bêbado e um malandro safado…
Enfim, outros eram os tempos e poucas eram as opções. Talvez por isso mesmo. Éramos obrigados a exercer nossa criatividade num mundo só nosso, diferente daquele em que os adultos viviam. Não tínhamos jogos on line, videogames, Internet, celulares e nem nenhuma dessas distrações que fazem nossas crianças de hoje permanecerem horas a fio diante de um computador.
E nossas mães certamente eram muito mais desencanadas.
E felizes…